
A artista Livia Flores tem suas obras apresentadas no quinto lançamento da coleção ARTE BRA, que, desde 2007, documenta a obra de artistas contemporâneos brasileiros atuantes desde os anos 1980. Os volumes abordam com profundidade as obras selecionadas. São edições bilíngues, ricamente ilustradas, com texto crítico inédito, fortuna crítica, entrevista, cronologia e referências bibliográficas.Com linguagem dinâmica e textos de Tania Rivera, Glória Ferreira, Adolfo Montejo Navas, Ricardo Basbaum e Fernando Gerheim, ARTE BRA – Livia Flores disponibiliza um rico material de referência para profissionais, estudantes e leitores que desejam conhecer e se aprofundar nesse campo da produção contemporânea.
Livia Flores nasceu no Rio de Janeiro, em 1959, e iniciou sua produção artística no início dos anos 1980. É graduada em Desenho Industrial (ESDI/UERJ) e estudou artes na Academia de Düsseldorf, na Alemanha, entre 1984 e 1993. É mestre em Comunicação e Cultura (ECO/UFRJ) e doutora em Linguagens Visuais (EBA/UFRJ). Atualmente, leciona na Escola de Comunicação e no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (UFRJ). Transita entre meios e linguagens diversos como o desenho, a escultura e a instalação, muitas vezes fazendo uso de filmes ou vídeos.

Capa

Fortuna crítica

Fortuna crítica

Capa
LIVIA FLORES nasceu no Rio de Janeiro, em 1959, e iniciou sua produção artística no começo dos anos 1980. É graduada em Desenho Industrial (ESDI/UERJ) e estudou artes na Academia de Düsseldorf, na Alemanha, onde morou entre 1984 e 1993. É mestre em Comunicação e Cultura (ECO/UFRJ) e doutora em Linguagens Visuais (EBA/UFRJ). Atualmente, leciona na Escola de Comunicação e no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (UFRJ).
Transita entre meios e linguagens diversos como o desenho, a escultura e a instalação, muitas vezes fazendo uso de filmes ou vídeos. Seu trabalho inicial, que envolvia a pesquisa de materiais e processos, entrelaça-se a um interesse acentuado pela imagem e suas implicações, aproximando-se das questões do tempo e do movimento.
Realizou exposições individuais na galeria Progetti, MAMAM, Galeria Laura Marsiaj e Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. Entre as coletivas, destacam-se Tempo-matéria, Serralves – A Colecção, Porto; Prêmio Projéteis Funarte de Arte Contemporânea; 26ª Bienal de São Paulo; Entre Pindorama, Künstlerhaus Stuttgart; e Mídia-arte: 3º Prêmio Sergio Motta.
“Livia recusa toda lógica da obra de arte autônoma e apartada do mundo para revirar a vida – na galeria, na rua, no museu. Seus objetos carregam sutis alegorias que dialogam com a cultura e reverberam as tensões entre cada homem e o comum no qual eles se movem. (…) Livia recolhe fragmentos poéticos do mundo – não para a partir deles fazer outra coisa, porém, mas para mostrá-los em si – e com eles força os limites e as fronteiras da arte e da sociedade.”
Tania Rivera
Luiza Mello e Marisa S. Mello
Tania Rivera
Glória Ferreira
VER PARA PENSAR, OU AO CONTRÁRIO
Adolfo Montejo Navas
Ricardo Basbaum
Fernando Gerheim
Fernando Gerheim
APRESENTAÇÃO
Luiza Mello e Marisa S. Mello

A presente publicação, que abrange a produção artística de Livia Flores, consiste no quinto volume da coleção ARTE BRA. A coleção apresenta um panorama da obra de artistas contemporâneos que despontaram sobretudo na década de 1980 e ainda não tinham livros publicados sobre o conjunto de suas obras. A partir de 2007, foram publicados volumes sobre Raul Mourão, Marcos Chaves, Lucia Koch, Luiz Zerbini e Moacir dos Anjos, que inaugurou a coleção ARTE BRA crítica.
Tania Rivera, convidada para produzir o texto de abertura, destaca que a obra da artista é instável, pois se encontra em constante transformação. Para a autora, ao introduzir um desvio na cena apresentada em seus trabalhos, Livia cria uma brecha capaz de reverter esta cena e nosso lugar nela enquanto espectadores. O risco do invisível também está presente, pois as alterações de contexto ou desvios que produz nos objetos/significados podem ser muito sutis.
Para aprofundar a leitura, reunimos mais quatro textos publicados anteriormente que refletem sobre contextos específicos do percurso da artista. Glória Ferreira escreve sobre a exposição ocorrida em 2008, na Galeria Progetti, no Rio de Janeiro, onde foram apresentadas as “telas/telões”. Segundo Glória, não se trata de telas de pintura e, ao mesmo tempo, não são telas que reproduzem imagens em movimento. São espaços polivalentes. Funcionam como espelhos entrecortados que reproduzem, por sua capacidade de refletir, tanto o mundo de fora do espaço expositivo, quanto o espectador. O resultado desta operação de “transmutação de valores” amplia o campo dos sentidos em múltiplas direções.
No caderno do artista, Livia apresenta uma colagem digital a partir da série Caderno Juquinha, produzida no final da década de 1970, como crítica à hegemonia da imagem televisiva, série essa em parte retomada e ressignificada em trabalhos do final dos anos 2000.
Adolfo Montejo Navas escreve sobre a instalação Puzzlepólis II, realizada na 26a Bienal de São Paulo, em 2004, com trabalhos de Clóvis, então residente da Fazendo Modelo, RJ, antigo abrigo para moradores de rua. Através da combinação entre imagem – movimento – e luz, a artista traz, nas palavras do crítico, “à luz algo que está fora de foco (estético, social), realizando] operações de transvaloração (troca de artista por artista, inversão da natureza da obra, cruzamentos de imaginários ou relações com o precário ou o lixo), criando nessa fronteira frágil a possibilidade de encontrar outras miragens”.
Super, de Ricardo Basbaum, foi escrito em 2000, por ocasião da exposição da artista no Espaço AGORA/Capacete, Rio de Janeiro. O autor destaca que Livia mistura sonhos, reflexos, realidade e filme em um mesmo espaço. Para ele, “a instrumentalização do filme enquanto continuidade do sonho não é descoberta
de Livia, mas efeito (decisivo para a modernidade) que ainda mal compreendemos (mesmo já no século XXI) do encontro de ambas as invenções (da imagem em movimento e do sonho)”.
O texto de Fernando Gerheim foi produzido em 1999, sobre a exposição realizada na Galeria Cândido Portinari, UERJ. Para ele, as imagens criadas por Livia “são um espaço [de con"ito] entre o olhar e as coisas”, e demonstram a impossibilidade de separarmos sujeito e objeto, observador e observado, o olhar e a coisa, e a tensão existente na relação entre espaço e tempo.
A entrevista contou com a participação de Glória Ferreira, Luiza Mello, Ricardo Basbaum e Wilton Montenegro. Na interlocução com os entrevistadores, Livia traça um percurso sobre sua trajetória atual e, retrospectivamente, até quando começou a se relacionar com arte. Entre as questões discutidas, destacamos a proposição de “cinema sem filme” elaborada pela artista a partir da constatação de que vivemos um estado de ser cinemático. Para ela, a própria arte pode ser definida como cinema sem filme. O filme, neste caso, vai se produzir na realidade. Algo pode ser registrado ou pode ficar sem registro. O filme é simplesmente essa captação. Os espelhos utilizados em grande parte de suas instalações, por sua vez, não guardam
o registro. Além disso, ao refletir/projetar as imagens de fora do espaço expositivo, junto com imagens sendo projetadas no interior, Livia mostra uma nova realidade. Ao mesmo tempo, ao criar “buracos poéticos” nas paredes, ou brechas, Livia cria uma instabilidade no espaço físico. Ela se interessa em virar a imagem do avesso. Algumas imagens de cabeça para baixo, sobrepostas, registradas ao longo do livro, demonstram o vigor desta operação. O cinema sem filme existe quando você percebe que a obra não preexiste, mas é construída pelo olhar.
A cronologia vem completar o quadro, dispondo no tempo a formação e atuação de Livia Flores como artista e pesquisadora.
Gostaríamos de convidá-los à leitura e reflexão suscitada pela obra da artista Livia Flores.
O BELO E O ÍNFIMO
Tania Rivera
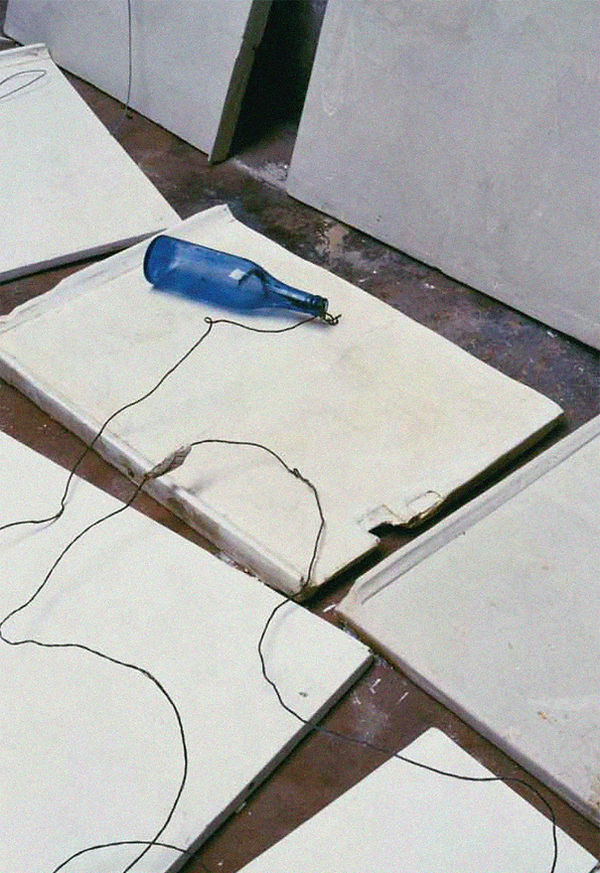
O trabalho de Livia Flores é quase inapreensível. Não há estilo ou estratégia bem definidos e reconhecíveis – tudo aqui é furtivo e está em constante transformação. Obra instável, antiobra que afirma radicalmente a arte (na vida).
Para acompanhar e transmitir fielmente tal poética, algumas das frases deste texto deveriam ser capazes de desaparecer em uma dobra invisível do papel, para depois ressurgir em outro ponto e alterar todo o conjunto. Suas palavras poderiam talvez ser peças a se interligar de modo a formar frases-trajetórias para cada olhar, assim como as placas de gesso de Náufrago (na galeria IBEU, 1994) se ligavam por !os que conduziam a uma garrafa. O que poderia estar escrito dentro desta garrafa jogada ao mar não importa, o fundamental é que isso (essa dobra) nos entrelaça a todos, náufragos.
O que interessa a Livia é o ínfimo. O desvio sutil – as “pequenas conspirações”, diz ela – que toma força quando a “discreta” presença de uma pilha de cobertores baratos ao lado das peças de época expostas no Museu Imperial de Petrópolis subitamente materializa um enorme fosso sócio-histórico, aquele existente ainda hoje no Brasil entre aqueles que detêm o poder e aqueles que lhe servem (ou, pior ainda, estão completamente fora do sistema). Quantos desses cobertores não vemos, na rua, escondendo talvez mais do que aquecendo os moradores de rua?
Os cobertores reaparecem na exposição de 2012 na Galeria Progetti, tornados bandeiras ou estandartes ready-mades (ou talvez parangolés inertes e descoloridos). Eles se tornam escultóricos graças à combinação com o gesso, material também precário, porém firme, e dialogam com as aspirações tão geométricas quanto humanas do neoconcretismo. Não deixam de ecoar, também, o feltro de Beuys e sua provocação, no começo dos anos 1970, de “pensamentos sobre o que escultura pode ser e como o conceito de esculpir pode ser estendido para os materiais invisíveis usados por qualquer pessoa”. Especialmente quando as pessoas quaisquer são, justamente, aquelas que entre nós estão cobertas de uma estranha invisibilidade.
As obras de Livia Flores, lidando com os materiais invisíveis de cada um, são rigorosamente instáveis: seus elementos são retomados em novas combinações, como se o terreno em que a artista opera fosse um quebra-cabeça sempre em movimento. Assim como os cobertores, os tacos de madeira que cobriam o chão de Puzzlepólis (2002) ressurgem dez anos depois na mesma exposição na galeria Progetti, desta vez empilhados em toda a extensão de uma das paredes (chão tornado muro ou estante). As laterais dos tacos, normalmente invisíveis, os transformam em outra coisa: uma série de intervalos, frestas. Em algumas delas, o olhar encontra livros (Il y a, de Apollinaire, Les amours, de Tristan l’Hermite), em outras uma página destacada d’As Bacantes. Uma das frases da tragédia de Eurípides serviu de mote para toda a exposição: “ó megaluz do bacanal de Evoé me alegro: a solidão me era desértica”. Outra remete à potencial sonoridade dos tacos nos quais não se pode mais pisar: “é o deus rumor que no interior ulula”.
Os elementos reutilizados de alguma maneira portam a memória dos trabalhos desfeitos, e compõem materialmente uma espécie de fragmentada história poética. Estão carregados de tempo. Cada um deles “é uma bomba de tempo”, lança Livia.
DESLOCAMENTOS
A tarefa poética de Livia Flores é quase invisível. Ela dá a ver algo que já estava lá, aguardando em uma dobra da vida. Pode ser algo ínfimo e no entanto poderoso como os objetos de papelão e sucata que Clóvis Aparecido dos Santos realizava na Fazenda Modelo (instituição onde eram recebidas as pessoas recolhidas nas ruas do Rio de Janeiro) e que Livia leva para o espaço Sérgio Porto em Puzzlepólis (2002).
Nessa instalação, tacos formavam, soltos, o piso inseguro em que o espectador devia andar ao aproximar-se dos objetos casa e abajur. O objeto e a frágil maquete de Clóvis retomam involuntariamente aquelas de Hélio Oiticica e de Lygia Clark, para radicalizar a proposta que já era nelas fundamental – com sua feroz afirmação da precariedade, da adversidade de que vivemos, da loucura (que ecoa a de Bispo de Rosário e a do Engenho de Dentro), da marginalidade.
“Nos tacos, todas as possibilidades de encontros e combinações (todos os dramas, os dramas de todos nós). A gente !ca remoendo aquele som. O(s) Clóvis”, escreve a artista no texto do folder da exposição. O som a que se refere é o do deslocamento das peças de madeira sob nossos pés. “Os Clóvis” referem-se a uma tradição carnavalesca ainda presente nas zonas norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro. São grupos fantasiados, cujo nome se supõe derivar do inglês clown, que formam uma massa coesa e produzem um forte barulho batendo no chão bolas ou outros objetos, razão pela qual também são conhecidos como bate-bolas. Costuma haver neles algo de aterrorizante, capaz de assustar as crianças. Puzzlepólis põe em questão a bela (mas também terrível) força da coesão entre os homens. Em seus tacos semiencaixados, porém soltos, estamos nós (quebra-cabeças de mil combinatórias, cujas peças são infinitas e quase idênticas). Nos tacos, o mundo. E, sobre ele, a poesia: louca, gratuita, carnavalesca e marginal construção (que não abriga ninguém).
Livia recusa toda lógica da obra de arte autônoma e apartada do mundo para revirar a vida – na galeria, na rua, no museu. Seus objetos carregam sutis alegorias que dialogam com a cultura e reverberam as tensões entre cada homem e o comum no qual eles se movem. Nisso, revela-se herdeira de Oiticica, para quem “museu é o mundo, é a vida cotidiana”, e a cultura é “raiz aberta” em constante construção. Assim como o artista encontrou o parangolé em um terreno baldio, na precária construção de um morador de rua, Livia recolhe fragmentos poéticos do mundo – não para a partir deles fazer outra coisa, mas para mostrá-los em si – e com eles força os limites e as fronteiras da arte e da sociedade.
Em sua intervenção mais radical, na 26ª Bienal de São Paulo em 2004, a artista mostra uma profusão de construções de Clóvis formando uma espécie de cidade (Puzzlepólis II). Trata-se de uma “troca de lugar”, diz Livia, uma troca de “lugares
de olhar”. Ela dá a ver o produto de um outro, e sublinha uma intervenção sua como fundamental: o uso de filme nos vidros que formam uma das paredes do espaço e deixavam entrar a cidade dentro da instalação durante o dia, enquanto, durante a noite, espelhavam suas luzes e contornos. Esse gesto mínimo é sutil, mas poderoso: potencializa a passagem, a miragem que poderia fazer a precária e gratuita obra de Clóvis contaminar e invadir toda a megalópole, apagando as fronteiras durante o dia, estendendo suas luzes ao infinito quando escurece.
Não se trata aí de uma apropriação. Livia chama a atenção para o fato de que captar a cidade e as luzes da cidade já era uma de suas grandes preocupações, em filmes super-8 ou em Lambe (2002), que apresentava dezenas de fotos 3x4 de prédios do centro da cidade do Rio de Janeiro, invertendo a relação de poder expressa no fato de muitos condomínios comerciais exigirem do visitante a apresentação de um documento de identidade. Além disso, o 3x4 faz de cada prédio uma identidade, a existência civil de um cidadão, ecoando aquela presença de nós no quebra-cabeça de tacos da cidade de Puzzlepólis.
Livia reconheceu, no incessante trabalho que Clóvis fazia para circuito algum de arte, algo que já era seu. A imagem que Clóvis produz “também é minha”, afirma a artista. “O que pensei, não pensei sozinho”, como já dizia Georges Bataille. A artista afirma se tratar de algo como uma “identificação”, mas creio que uma boa palavra seria estranhamento: movimento pelo qual se reconhece no outro algo de seu. Há algo que religa, ainda que precariamente, eu e o outro (esses náufragos). O que tomo por meu pode aparecer estranhamente fora de mim, no outro, dando notícias de algo que, como a mensagem na garrafa, dirige-se ao outro – e, numa estranha inversão, mostra que já estava nele. Ou já estava entre, flutuando nesse mar em que estamos todos.

Tomada pelo que ela chama “tentação da inversão”, Livia corajosamente se subtraiu do palco almejado por todo artista brasileiro, em um gesto cheio de reverberações sobre o circuito da arte, a concepção de autoria na arte contemporânea e a definição da obra de arte, hoje. O fato de esta ação ter sido largamente incompreendida mostra o quanto sua potência crítica atingiu um limite tabu mesmo para aqueles que se reconhecem herdeiros de Duchamp.
Na residência artística realizada em Recife (MAMAM, 2007), Livia trabalha a partir do encontro fortuito, na noite de sua chegada, com um artista de rua conhecido como Gargamel. Com uma venda nos olhos, ele mostrava aos frequentadores dos bares locais um quadro invísivel e em seguida estendia um cartaz no qual se lia “SOS artistas”. Chama a atenção de Livia a curiosa coincidência de os quadros vendidos por Gargamel apresentarem motivos cinéticos relativamente próximos do que ela própria vinha produzindo na série Como fazer cinema sem filme?
Decidida a trazer este encontro para dentro da galeria, Livia busca nos dias seguintes este personagem, sem sucesso. Ela cola na porta do MAMAM um cartaz com os dizeres “Procura-se Gargamel”, e reproduz em desenhos a figura vendada
e a inscrição “SOS”. O que era do outro, mas já era seu, torna-se seu, novamente. Trata-se de refazer os !os entre os náufragos, na arte, e alguém sempre recua, subtrai-se ou mesmo desaparece quando se trata não do local onde se estaria junto, mas sim do deslocamento, de um ao outro.
Assumir esse deslocamento e a ele se prestar tem algo de humorístico. Não se trata de ironia nem muito menos de comédia, na proposta desviante de Livia, mas há algo de espirituoso, como uma sutil malícia, uma piscadela que só vê quem entra no jogo. Freud afirmava que o riso vem de uma desidentificação: diante da queda desastrada do palhaço, rio porque não fui eu quem caiu. Diferente do riso, o dispositivo suscitado pela artista é ambíguo e tem a ver, segundo ela mesma, com o grotesco, que segundo Bakhtin envolveria uma troca de lugar, uma inversão de
posição em relação ao outro. Talvez ele seja o “ironismo de afirmação” que Duchamp distingue do “de negação”, que dependeria do riso. Ou ironismo de interrogação, se quisermos retomar a etimologia de ironia no termo grego éiron: “interrogante”.
DESVIOS
Mais do que “obras”, Livia deposita nada mais do que pistas, deslocamentos, remanejamentos pontuais. Interrogações, ironias. O crítico Luiz Cláudio da Costa fala da “máquina de desvios” da artista, e me faz pensar que, mais do que deter tal
engenhoca desviante, Livia não seria mais do que essa “máquina” de pequenas loucuras (penso em 12.04.2008, intervenção no Morro da Conceição que nos fazia andar até uma das encostas do bairro para encontrar, voltada para a cidade, a inscrição “Feliz Ano Novo” em lâmpadas amarelas. Algo bastante banal e que poderia ser invisível como arte, se não estivéssemos, como indica o título, em pleno mês de abril).
Falando sobre o Grande vidro, Duchamp afirma que “o desvio [l’écart] é uma operação”. A frase pode ser considerada como uma espécie de lema de Livia Flores, e comprova que ela talvez seja a artista de linhagem mais diretamente duchampiana do cenário atual.
Isso não quer dizer que ela faça ready-mades, a herança mais óbvia do grande artista. Livia parece, antes, levar às últimas consequências a afirmativa de Duchamp segundo a qual o ready-made é “uma coisa que nem se olha”. O que há de olhável no objeto – seu pedestal, digamos – deve ser retirado de cena. Os cobertores baratos não são algo a se contemplar como objeto de arte em si. Não se trata, no trabalho de Livia, de apresentar algo que ocupe de modo crítico o lugar central do objeto na cena da contemplação, mas sim de introduzir um desvio, uma brecha na própria estrutura da cena. E, assim, de pôr ao avesso a cena e tornar instável a
posição que nela ocupamos.
Essa subversão é explícita no Projeto observador (Porto, 2001), no qual a galeria se torna uma câmara obscura que reflete a imagem da paisagem em frente a ela. O fora é o dentro e o dentro revira-se em fora, retomando uma operação cara à arte brasileira e que tem no Caminhando (1963) de Lygia Clark um marco, com o uso da figura topológica da fita de Moebius. Transformando o espaço expositivo em posto de observação do mundo, da cidade à sua volta, Livia revisita a questão da arte como mimese e da reviravolta que a fotografia vem imprimir nessa relação, ao mesmo tempo em que critica o estatuto do espaço institucional da arte como apartado do mundo. Fundos, realizado em 2002 no MAM-Rio, constituía também em uma câmara obscura na intenção de refletir a cidade em frente ao museu, mas teve que se contentar em reproduzir os jardins do aterro. A arte talvez deva mostrar os fundos da pólis, revirando o mundo.
Mesmo quando discretos, os pequenos deslocamentos que definem as proposições de Livia são como as !nas rachaduras que anunciam o terremoto, estranhando o mundo. Bastam essas frestas, não é necessária a destruição completa, pois é justo no ínfimo, nas pequenas percepções (para falar como José Gil), que estamos. O fundamental é mínimo – ou, para usar o termo de Duchamp, infrafino.
Infrafino é quase nada: algum gesto de deslocamento, de décalage. A introdução de um hiato. Duchamp não o define propriamente, mas declina-o, por assim dizer, em uma série de anotações, de fragmentos. Por exemplo: “2 formas embutidas no mesmo molde diferem entre si em um valor separativo infra !no.” A grafia da expressão varia, às vezes aparecendo como em um só termo (infrafino), outras vezes materializando o hiato como seu centro, no espaço gráfico entre infra e !no ou pelo uso de um hífen. Trata-se de uma mínima diferença: “todos os ‘idênticos’, por mais idênticos que sejam (e quanto mais idênticos sejam) se aproximam desta diferença separativa infra !na.”
Disso decorre que “a alegoria (em geral)” seja “uma aplicação do infrafino”. Trata-se de apresentar algo que não é o mesmo, em um jogo de aproximação e distinção. E, nesta aproximação, algo se fricciona, algo contamina, algo de um !ca no outro como o cheiro da boca na fumaça do tabaco, em outro exemplo de Duchamp. Há algo como um encontro falho, algo como o amor, no infrafino (é disso que se trata, justamente, em A noiva despida por seus celibatários, mesmo). “Os infra !nos são diáfanos e às vezes transparentes.” Eles são como o vapor condensado do meu sopro sobre superfícies polidas de vidro ou metal.
O infrafino, de fato, carrega algo de uma presença – perdida, subtraída – do sujeito. É uma sutil impressão, como, em outro exemplo de Duchamp, o calor em um assento que acaba de ser deixado. Livia sublinha seu caráter de impressão fugidia, que poria em questão a possibilidade mesma da impressão (no sentido de se imprimir uma coisa, um acontecimento, reproduzindo-o e fixando-o de alguma maneira). O que a arte imprime da vida? Não se trataria nela, justamente, de algo que não se deixa imprimir, infra!no, mas que define a arte como um mínimo desvio em relação às coisas cotidianas?
A câmera de Livia aproxima-se aos poucos, no caminho pelo qual passava cotidianamente a artista, de uma lasca de pneu jogada na beira da estrada. Infra!na, a forma revela-se subitamente uma cobra atropelada. Este encontro, este momento em que “se vive um acontecimento em imagem”, para falar como Maurice Blanchot, materializa-se para a artista em pequenos filmes super-8. Curto como tal acontecimento, o filme é um plano-sequência com duração máxima de três minutos, ou seja, ele é apenas um rolo de filme.
Ele é uma medida (o filme torna-se uma fita métrica, digamos): distância entre mim e a coisa vista. Distância que é a própria vida, regulando-se no intervalo entre o afastamento completo (ou seja, o desaparecimento) e “o ponto máximo de imantação”, na expressão de Livia. Interessa-lhe filmar em deslocamento, de carro, para experimentar esse jogo entre distância e imantação (cujo ponto máximo seria o atropelamento da cobra).
Tal jogo implica uma passagem do tempo. “O possível é um infrafino”, anotava Duchamp. O possível, pois ele ainda não é – e portanto implica uma diferença. Nesse hiato pulsa o futuro, o tempo (logo o desejo, provavelmente). Pouco depois, Duchamp explicita: “O possível implicando o devir – a passagem de um a outro tem lugar no infrafino”. A passagem.
No que se olha – ou melhor, no que se vive em imagem –, há uma passagem e uma perda. E uma suspensão, abrindo para algo imprevisto. Isso é, sem dúvida, o que o cinema nos ensinou sobre a vida.
O que ela deixa, a vida assim compreendida como passagem, perda e suspensão, e assim tornada arte? Um breve hiato, aquilo mesmo que nos imanta e distancia, aquela mensagem em branco na garrafa que pode enfim se transmitir: “carícias infrafinas” (Duchamp, ainda e sempre).

SEM FILME. MIRAGENS VERBAIS
Cinema sem filme é a vida. São seus momentos de poesia.
A proposição/provocação de Livia na frase “Como fazer cinema sem filme?” é o ponto alto de seu ironismo de interrogação.
Há no mundo diversas dobras, germens de poesia que se trata de tornar cinema, ou seja, de trazer para o olhar. E para o pensamento. “O cinema sem filme depende basicamente de deslocamentos operados ou percebidos no espaço, podendo acontecer a qualquer lugar ou instante”, escreve a artista. É importante que tal acontecimento não se inscreva num rolo de filme, ou seja, que se descarte a ilusão de que este instante vivido como imagem possa jamais se repetir. Ele também pode, eventualmente, se inscrever na materialidade da película, mas para se afirmar fora dela: no extracampo.
Um de seus super-8 veio em consequência do chamado que um bando coeso de larvas fez aos olhos de Livia, no jardim de sua casa. Os organismos ali se deslocavam em vaivém, de modo compacto, apesar dos sutis movimentos individuais imprimindo como que ondas na superfície, desmentindo ou ao menos problematizando seu caráter compacto. Já Rio Morto (1999) filma em travelling o canal que tem este curioso nome, em um deslocamento constante da inversão que se opera na superfície da água ao refletir a paisagem às suas margens.
Trata-se sobretudo de deslocar, com a imagem em movimento. E de nos deslocar, diante desses sutis “desabrochamentos cinemáticos do mundo”. A respeito da exposição de 1999 (Galeria Cândido Portinari, UERJ), que consistia na projeção de vários super-8, Livia afirma que tudo ali está em movimento, inclusive o espectador, que estaria “implicado na cena”. Em 2000, o jogo de espelhos e inflexões nas projeções traz para o espaço do Agora/ Capacete a “cena” na qual nos inserimos, mas também a problematiza, ao fragmentar e multiplicar suas janelas, suas vistas. Não estamos simplesmente na cena, no filme, mas sim em movimento entre cenas múltiplas.
Cada cena é afirmada como fragmento do mundo, “corte a céu aberto”. A artista rechaça a montagem cinematográfica, a construção narrativa, o ilusionismo da janela única a substituir uma realidade unívoca. Ela se alinha assim ao Quase cinema de Hélio Oiticica, em sua crítica ao princípio da montagem pela afirmação
de “momentos-frame”, capazes de criticar o cinema-espetáculo e lançar as bases para o que o artista nomeia “fundação fragmentada de limites da não representação”. Em vez de tomar, como as Cosmococas de Oiticica e Neville d’Almeida, o frame como fragmento que resiste ao sentido e à representação, Livia
toma como unidade fragmentária cada banda de filme super-8 com o deslocamento que ela carrega, um pouco como Hélio fazia também em seus curtos filmes realizados em Nova Iorque.
Não é tanto o cinema, portanto, que importa a Livia Flores, e sim “a incidência do cinematográ!co sobre modos instáveis de produção em arte”. Mais uma vez, Duchamp é o mestre, com seu cinema anêmico (no sangue do anemic cinema, sobra linguagem e falta o ferro da ilusão) e com o Grande vidro e seu “modo cinemático de incessante devir”.
“No tempo um mesmo objeto não é o mesmo a um segundo de intervalo”, notava Duchamp pensando no infra!no. É justo este intervalo que interessa a Livia, essa “figuração de um lapso entre o que era e o que deixou de ser”. Ela quer figurá-lo. E também “o que isso implica no devir”. O fundamental é “tornar o pensamento do intervalo súbito disponível”. No cinema sem filme , trata-se portanto, fundamentalmente, de filmar o próprio tempo. Livia afirma que “o desenho condensa o tempo, ocultando-o”, enquanto, “ao filmar, filma-se o tempo”.
O filme é infra!no a cada intervalo entre os fotogramas. Infrafina é a tentativa de figurar o vento sobre o capim da paisagem predominante de Vargem Grande, onde a artista morou durante anos. E o fato de o vento cessar justo quando a artista decide filmá-lo, e o capim permanecer imóvel por dias. Infrafino é a evidência de que algo se subtrai, entre a vida e a imagem.
Como fazer cinema sem filme? é uma provocação a ir além do discurso (mimético e simplista) da tecnologia para mostrar esse avesso da relação entre a imagem e o mundo. Trata-se de uma “pergunta-espelho”, diz Livia, que “funciona como um anteparo, um rebatedor” de modo a quebrar a nossa tenaz ilusão de equivalência
unívoca entre a realidade e o cinema.
“Em geral, o mundo sai melhor na foto”, nota a artista. Em vez de aderir ao estetismo fotográfico ou cinematográfico na tarefa implícita (e politicamente questionável) de melhorar o mundo (ao dar-lhe uma boa imagem), trata-se de questionar a foto (melhorá-la, mas em outro sentido). Ou seja: trata-se de desdobrar e subverter a lógica do cinema e da fotografia para forçá-los a mostrar a vida. Recusar a tela de projeção como janela aberta para outra realidade e apontar para o projetor, acentuar o retângulo de luz – e disseminá-lo no mundo.
No início da década de 1980, Livia já conformava essa crítica atacando alegoricamente a tela de televisão, ao decompor suas faixas de cor pelo uso de papel de presente com padronagem de losangos em listras azuis, vermelhas e verdes sobre fundo prateado. Essas telas são reapresentadas em 2007, incorporando as marcas do tempo sobre o papel. Seu grafismo será reaplicado em um fundo espelhado que traz o mundo para dentro dessa análise (dessa quebra) da imagem tecnológica. Trata-se, nas palavras da artista, de uma “alegoria do digital”, mas também “do sem registro”.
Em filme, trata-se talvez de registrar justamente aquilo que não se pode registrar, aquilo que escapa à apreensão imagética e no entanto é imagem por excelência: o sonho. Sobre A cadeia alimentar, Livia nota que “Sonhos, tanto quanto imagens reais, são matéria-prima para filmes”. A escrita de sonhos já era feita em desenho sobre papel carbono (1993) e palavras de sonho já formavam o “mapa” da Rua do Hotel Sem Passado que era o mote da exposição de 2000 no Agora/Capacete.
Algo se subtrai e resiste ao regime tecnológico da imagem. Algo que pode me “imantar”, justamente, quase me atropelar, conjugando violência e poesia. “Procuro frestas por onde escapar do real sem filme que me atropela”, escreve Livia Flores. Mas acho que o que ela faz seria, antes, procurar – ou até rasgar
– frestas por onde vislumbrar o real sem filme que nos atinge. Abre-se de repente a garrafa do náufrago, e dela escapa um breve instante do mundo.
O filme pode ser o fio precário (e invisível, virtual) entre um e outro náufrago. No que ela chama “utopia de artista”, Livia sonha, em seu texto Uncut/Como fazer cinema sem filme?, com “o filme na cabeça de cada um, sem câmera nem projetor, ao mesmo tempo compartilhável. Nesse sentido, na medida em que inventa para si uma topologia móvel, descontínua, errática e instável, o cinema sem filme poderia ser uma heterotopia. Mais precisamente: um problema de 'patafísica”.
E conclui, num arrebatamento:
“Saudoso Jarry, pai de Duchamp!”
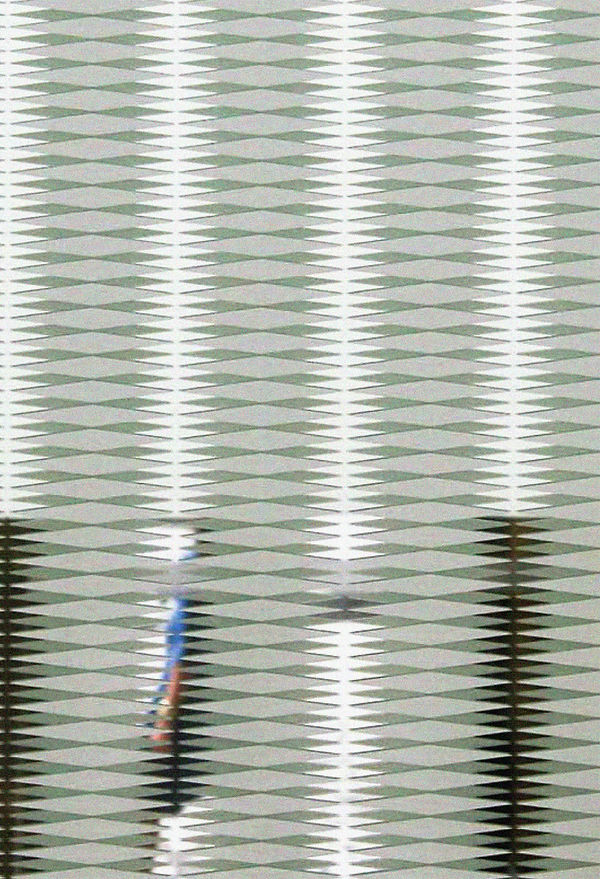
TELA COMO TERRITÓRIO
Glória Ferreira

As telas acolhem, hoje, as grandes colagens de papel de presente do início dos anos 1980, nomeadas então com o título genérico de “telas” ou “telões”. Em pleno contexto do chamado retorno da pintura, o ritmo repetitivo dos módulos decorativos do papel, como extensão sem foco de uma espécie de all over, apresenta-se como alternativa negativa à predicação de composição de imagem, de figurações. Os “telões” não se queriam propriamente pinturas, como relata a artista, anunciando talvez que a contaminação do trabalho artístico pelos dados sensíveis e expressivos que vigorou nessa década era, mesmo que denegada, atravessada por uma visada conceitual.
À presença do que “aconteceu”, próprio da pintura, a colagem dos papéis com padrão cinético remete à projeção, com fulgurações que evocam o brilho das ondas emitidas pela televisão. Se a estratégia do trabalho é desviante em relação à pintura, também o é no que então se chamava de fotolinguagem — na qual a imagem de reprodução técnica tendia a ser compreendida como suporte — para enfrentar a nova problemática da imagem em seu trânsito entre ausência e presença. Espécie de pré-imagens, abstratas ainda que diretamente relacionadas à
concretude das coisas do mundo, trazendo como referência a estética do movimento (com sua descontinuidade escondida pelos diferentes reflexos dos pequenos losangos de cor), acolhe imagens transitórias, rastros de memória, e torna-se campo de passagem entre o que se revela e o que se oculta, entre representações e percepções. Fugidios, os reflexos coloridos estabelecem a continuidade com o mundo, entrelaçando pintura e imagem, pintura e conceito.
Ao apresentá-las hoje, com a marca do tempo no desgaste do papel e reprocessadas em sua migração para telas com chassis, seu vigor se revela no diálogo que estabelece com a produção da artista e, de modo singular, com seu amplo campo de pesquisa do “cinema sem filme”. À imagem-síntese, tão preciosa em um filme, o cinema sem filme de Livia Flores nos lança, como em seus trabalhos recentes, na vertigem da imagem no espelho. Mas imagens entrecortadas, descontínuas, vislumbradas entre losangos de cor, colocando em jogo a relação
entre sujeito e imagem. Como “extração poética de uma falta”, ao convocar a imaginação cinematográfica em sua relação com nosso cotidiano, dispensando, contudo, películas, narrativas ou imagem em movimento, Livia Flores investe, como diz, na “possibilidade de inversão e transmutação de valores, encadeamentos e fluxos de circulação”, abrindo o campo do sentido em múltiplas direções.
CADERNO DA ARTISTA




VER PARA PENSAR,
OU AO CONTRÁRIO
Adolfo Montejo Navas

Nesta cartografia noturna de Puzzle–Pólis II de Livia Flores, além do campo das sensações que emanam da visualidade, de imagens em movimento (como refletem também seus trabalhos com filmes), há uma tríade composta por imagem-movimento-luz que aciona um espaço em várias instâncias, ora através de elementos que simbolizam o próprio espaço – uma espécie de prédios-torres com coberturas dissimilares –, ora com a participação de nosso passeio. Aliás, o próprio lugar da obra já é outra fronteira, um território afetivo que também analisa a dominação do espaço e seu litígio (algo politicamente simbólico). Não em vão, “a produção do espaço como mercadoria” (Dolores Hayden) funciona tanto no contexto urbano quanto no contexto cultural.
Construção de construções, cidade visível/invisível, cidade naufragada em seu próprio habitat? Ou uma cidade ficcional, apropriada da exclusão? Ou do sonho? Na geografia da obra, as várias dezenas de abruptas peças de Clóvis (artista morador da Fazenda Modelo, um abrigo para moradores de rua, no Grande Rio) são instaladas aqui para criar um espaço alucinatório, pós-cinético (onde as coisas sempre giram, movem-se, até pelo próprio calor da iluminação). Como uma forma de refletir e vivenciar nosso locus urbano, como um espaço de recepção e de projeção de imagens – de “um ver para pensar”, segundo as palavras da artista. Se o trabalho anterior, Puzzle-Pólis (2002), já refletia certa pulsão urbanística, arquitetural, agora se enfatiza mais esse imaginário descendente da fragmentação e do naufrágio contemporâneo, o que produz um espelhamento entre Clóvis e Livia.
A atração pela latência das imagens, pela luz e seu negativo (a penumbra), estabelece uma rede compositiva que alia materialidade e sonho, vigília e rigor. Em Puzzle–Polis II, somos convidados a passear o olhar, volatilizando nossa posição hegemônica. Parte das estratégias da artista é não oferecer apoio nem leituras recalcadas. Daí também as diversas ambivalências em jogo que fazem parte do cerne desta obra: a ordem de sua apresentação é mais importante do que a ordem da sua representação. Não esqueçamos de que se trata de gerar uma visualidade em miragem – um leitmotiv contínuo da artista –, uma temporalidade suspensa em uma espacialidade quase indefinida. Mas há sempre alvos: trazer à luz algo que está fora de foco (estético, social), realizar operações de transvaloração (troca de artista por artista, inversão da natureza da obra, cruzamentos de imaginários ou relações com o precário ou o lixo), criar nessa fronteira frágil a possibilidade de encontrar outras miragens. A instalação de Livia Flores decanta seu ímã e cria uma alucinação própria, cuja trama espacial e meditativa coloca o pensar e o ver em uma mesma frequência interrogativa.
SUPER
Ricardo Basbaum
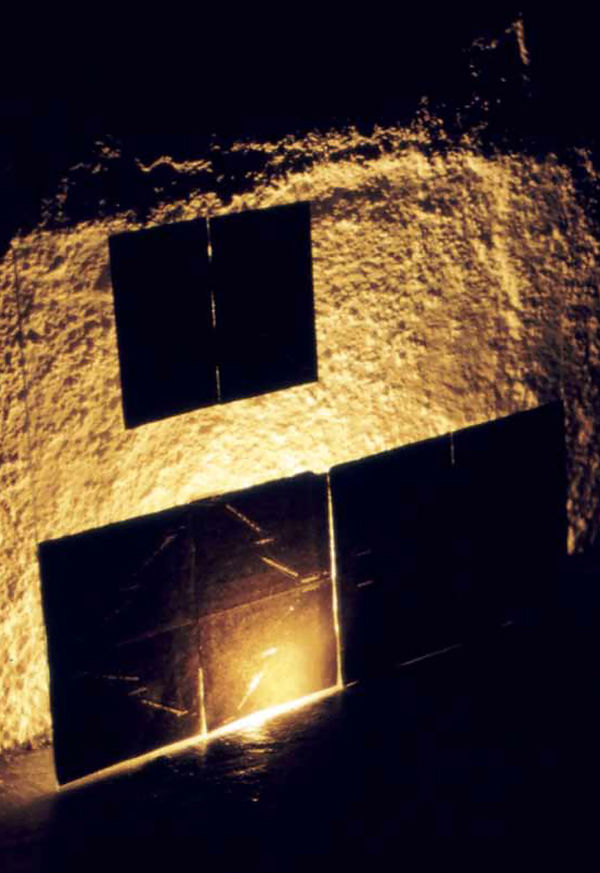
A exposição só começa a funcionar quando o sol se põe e a noite se inicia: os filmes não estão num cinema, protegidos da realidade pela arquitetura de uma sala escura e indevassável, imune ao ruído do mundo que corre lá fora. Ao contrário, aqui, na galeria, a luz do dia insiste em insinuar-se, o calor do verão se faz presente, a rua ao lado não esconde o fluxo de carros, caminhões e pedestres em ações regulares ou extraordinárias do dia a dia. Mas nada disso impede o funcionamento do trabalho de Livia Flores, que se aproveita dessa condição para de"agrar sua intervenção imagética no espaço, afirmar seu investimento na multiplicação, desvio e dinâmica da imagem em movimento.
“A exposição só começa a funcionar quando o sol se põe e a noite se inicia”: as condições do local (a galeria como espaço de sono, entorpecimento, sonhos, trabalho incessante, descanso) estão em sincronia com as circunstâncias em que o projeto foi iniciado: um sonho, que Livia anotou e transformou em um dos objetos expostos. Ali, em folhas de papel-carbono perfuradas pelo impacto da máquina de escrever e dos gestos à mão da escrita, arranjadas entre duas lâminas de vidro que se apoiam diretamente sobre o chão (trata-se, pois, de um objeto), pode-se ler: “rodoviária / rua do hotel sem passado / centro”.
O sonho, já aqui exteriorizado, extraído, materializado, ainda assim cultiva o informe, substância e lugar fabricante de imagens. Essas poucas palavras indicam um mapeamento incipiente e instigante, mistura de espaço e tempo sem outro lugar que aquele da própria proposição, que entretanto não gira sobre si mesma; remete aos filmes: essa continuidade se dá graças ao fluxo das imagens, às passagens que estabelece com as projeções. Felizmente o sonho se salvou de si mesmo, das armadilhas caprichosas da autorremissão narcísica, estéril e paralisante. A instrumentalização do filme enquanto continuidade do sonho não é descoberta de Livia, mas efeito (decisivo para a modernidade) que ainda mal compreendemos (mesmo já no século XXI) do encontro de ambas as invenções (da imagem em movimento e do sonho): o inconsciente parece mais próximo, mais perigoso, mais produtivo, mais fluido e menos misterioso (há quem diga artificial), atravessado por imagem e linguagem. Entretanto, ainda perturbador, sobretudo quando é trabalhado (como aqui) na interface com a matéria-arte.
O ambiente proposto pela exposição multiplica os diversos efeitos pretendidos, lançando o visitante em um espaço cercado de imagens em movimento contínuo, distribuídas em várias alturas pela sala, de modo a produzir uma perda de orientação inicial. Se a lei da gravidade mantém nossos pés e as demais coisas no chão, trata-se ainda de efeito residual, pois nesse ambiente já há muito tudo funciona de outro modo, em reduzida linearidade. Sem lugar fixo e privilegiado, o olhar é obrigado a deslizar por entre as diversas projeções, de uma a outra, indo e voltando, antecipando-se e recuando; é mesmo agora que tudo acontece, e o projeto deste trabalho quer que seja assim: continuidade entreimagens, do mundo mudo do sonho à vertigem da sala e seus ruídos mecânicos; os recursos são filmes super-8 em loopings contínuos, projetores expostos e espalhados pelo chão, superfícies de reflexo, paredes.
Há filme, mas não existe cinema no trabalho de Livia Flores. A artista cerca-se de cuidados, para não deixar seu esforço ser tragado pelos truques da montagem e da narrativa, submersos em toneladas de clichês produzidos por um século que se encerra. A oportunidade que surge nesta instalação é fruir o filme sem alguns de seus vícios, oferecendo outra experiência da imagem – ainda que tenham sido utilizados película, câmera, projetor. Os caminhos que se abrem são de uma investigação do entorno, dos lugares por onde Livia passa, da paisagem que a cerca: investigar é lançar certo tipo de perguntas, capturar as coisas de um modo particular, cuidadosamente ensaiado; enfatizar aspectos de sua dimensão sensorial; perceber uma presença ativa própria, acoplada ao aparelho de captura de imagens; redimensionar a situação vivida nos termos de uma arquitetura acessível à percepção do outro. É importante a visibilidade de lanterna à pilha. Talvez, paradoxalmente, seja este o objeto, dentro do conjunto, que reenvia ao cinema (no sentido do espetáculo), pois frente a ele somos mais espectadores do que quando mergulhamos nas imagens super-8. Isto é, as duas imagens do objeto-bandeira são também ao mesmo tempo paisagísticas e domésticas, trazem à tona novamente um percurso de Livia perante a cidade, a casa, os caminhos, uma relação com as coisas. Que isso seja reconhecidamente mediado por uma tecnologia da imagem (e aqui não importa hierarquizar o digital, o elétrico ou o manual como tecnicamente mais ou menos avançado, pois o que está em questão é mesmo um jogo de relações ou um campo) que perpassa o inconsciente e se materializa na arquitetura é o que me parece o importante núcleo de choque do trabalho. A oportunidade que se oferece, seduz e que não deve escapar é a de se deixar tomar por esse susto, ainda que isso signifique perceber que a distância entre o sonho (que pensávamos ser nosso) e o espaço social da imagem é cada vez mais reduzida – é importante que essas passagens sejam sensorializadas e que disso se produza o impacto de uma experiência.
ENTRE MARGENS
Fernando Gerheim

A primeira coisa que se percebe quando se entra no espaço de exposição, de um modo inseparável dos filmes projetados nas paredes, é o espaço de exposição no escuro. A luz entre margens de escuro, o escuro entre margens de luz. O espaço escuro sem filmes é incorporado às margens e já aí, nesse alargamento à escuridão, nas imagens extensivas ao breu, insinua-se o conflito que elas põem em movimento. As imagens na distância – e aqui, senão na superposição, na colocação lado a lado – entre a luz e a sua ausência.
É um espaço de máquinas no escuro, que dilata as pupilas, gerando imagens variadas, que se interconectam de um modo lento, estranho, embora evidente, e que parecem falar, através de imagens específicas, de todas as imagens. Máquinas no escuro que geram a luz e as imagens, como eletricidade à noite, os sonhos no sono. Todo escuro se assemelha e, diante dele, toda a luz também. A engrenagem parece colocar o espaço na dimensão de um universo que se autoengendra, e do qual o olhar, com tudo o que ele tem de acidental, é parte constitutiva.
As imagens são um espaço entre o olhar e as coisas. Um campo imantado, de afastamentos e aproximações, cuja fonte magnética está oculta, no escuro. As imagens são essa distância, e o tempo nesse entrelugar é o presente incessante, sem origem e sem !m, cíclico. As engrenagens são as engrenagens do espaço aberto pelo tempo. Movimentos de máquinas, animais, natureza, com a câmera mais ou menos fixa, e o movimento entre o observador e o que ele observa. A imagem é constituída, por assim dizer, pela distância entre dois espaços. Ela é, para usar uma metáfora topológica, o interior do tempo. Por isso, a presença do observador é sempre visível, nunca isenta. E a do espectador chega a projetar sua sombra na imagem. As imagens parecem pôr em cena o paradoxo permanente desse encontro, a perseguição desse imediato, dessa superposição, que tem sua revelação na imagem da cobra morta.
A tensão entre o olhar e o objeto é a imagem temporalizada. Essa estrutura de polaridades autorreversíveis é terreno de confluências, do inacabado em moto-perpétuo. O que as imagens mostram, incluindo nelas os espaços sem imagens por onde o observador se desloca, e sua sombra que lhe devolve o próprio movimento ao olhar, é a impossibilidade de se separar – ou a crise desse espaço e tempo em permanente tensão – sujeito e objeto, observador e observado, o olhar e a coisa. Esse mistério, esse sonho é impregnado na matéria. As imagens são movimentos.
INSTANTES MALEÁVEIS
Fernando Gerheim

O que coloca as coisas em movimento é um impulso. Coisas, impulsos e movimentos estão em toda parte. O que os transforma em imagens é o olhar. As imagens projetadas por Livia Flores, mesmo sendo únicas, parecem dizer que basta o olhar captá-las. Imagens precárias, realizadas na contramão da tecnologia, utilizando um equipamento amador obsoleto. Há algo de misteriosamente comum no impulso que atrai o olhar para elas. Sob o murmúrio mecânico dos projetores, movem-se – e nos movem – entre margens de penumbra.
O facho de luz incide sobre o plano, o celuloide maleável expõe o looping como escultura no espaço. O observador se inclui na imagem, seu corpo se reflete nela. O próprio projetor de super-8 é imagem, produz o som para o filme mudo, e projeta sua sombra. Tudo comunica a si mesmo e se intercomunica. Com a circularidade do seu movimento permanente, o moto-contínuo faz o incompleto pleno.
As imagens projetam o seu próprio acontecimento no espaço. Cada uma no seu ritmo, tempos diversos, movimentos desiguais. O que move o capim é o vento. Sempre muito parecido, nunca igual. O desenho do movimento sutil do mato, em que o todo está em cada parte e cada parte no todo. Variações infinitas, dentro de um espaço tempo que se repete. As imagens podem se tornar estranhas ou permanecer banais. Cria-se uma absurda indiferenciação entre elas.
Na imagem em movimento de objetos estáticos, a câmera subjetiva, atraída pelo objeto, descreve uma certa trajetória, em uma certa velocidade. O limite da observação, a proximidade máxima, é o seu atropelamento. A imagem da cobra no asfalto revela o movimento em sua face insólita, paradoxal e trágica.
O olhar aproxima-se rápido de algo na pista, mal percebemos o gargalo de uma garrafa ligada por um !o a uma placa de gesso. Tudo sai de uma boca de vidro. Lentes. Imagens na garrafa. As imagens reverberam, criam atrito, deslizam, colidem, desviam.
O que liga o olhar ao seu objeto é a distância. Nessa investigação do tempo pela imagem em movimento, a distância é um campo magnético. O par de frases complementares “aqui não tem nada / aqui não falta nada” figura a tensão entre extremos autorreversíveis. O papel das palavras é o de um mapa, imagem mental, atuando no mesmo nível estrutural das imagens filmadas. O primeiro conjunto de frases se desdobra em outros: “distâncias irmãs / ímãs”. A questão se desloca do tempo, em que os objetos se movem, para o espaço, onde eles se localizam. Entre “terra encantada” e “rio morto”, corre um fluxo imantado.
O olhar e o objeto se movem, na mesma velocidade, na perseguição noturna de um carro. A distância mantém-se constante. Esta sequência parece provocar as outras. A tensão só se resolveria no choque, ou no afastamento. O campo de relações e movimentos em que circulam as imagens é um círculo aberto, dominado pelo poder atrativo da distância. Reinicia-se a perseguição.
ENTREVISTA
Rio de Janeiro, 1 de julho de 2012.
Participantes: Luiza Mello, Glória Ferreira, Ricardo Basbaum, Wilton Montenegro e Marisa Mello

Glória Ferreira
Você continua trabalhando com cinema sem filme? Com essa exploração da potência do negativo, como você disse em 2006? De certa maneira, podemos pensar que o cinema introduziu, ou reintroduziu a temporalidade na apreciação visual, o que a fotografia de certa maneira já havia mostrado com as possibilidades de enquadramentos diversos e sucessivos. Algo que mudou nossa percepção. E vemos muitos trabalhos de artistas, como Barnett Newman e sua Estação da Cruz, que utilizam a imagem em movimento, uma espécie de cinema sem filme. Philippe-Alain Michaud realizou uma exposição sobre o assunto no Beaubourg – Le Mouvement des Images, em 2007. Em geral, no cinema sem filme, você tem trabalhado com o auxílio de espelhos. São coisas visíveis como em Move. Você já chegou a pensar na questão da invisibilidade, como um cinema sem filme? Penso em o Grande Budha, de Nelson Felix, sobre o qual ele diz ser um cineminha para a cabeça, que pode levar quinhentos ou mil anos... Ou ainda em Walter De Maria, que afirmou, em 1972, que “o invisível é real”, quando ele apresentou o projeto de um trabalho para Munique, que não foi realizado. Seria um grande buraco, de cerca de 60 metros, que ligaria a terra original alemã com a terra de uma montanha que havia sido construída com detritos de guerra. A ideia é cinemática, sem dúvida.
Livia Flores
E ele falava em cinema também?
Glória Ferreira
Não, ele falava que “o invisível é real”. Mas o projeto dele era que, em cima desse buraco, haveria uma grande placa de ferro onde as pessoas poderiam sentar e vivenciar o buraco, sem vê-lo – aliás, é daí que surge a ideia do Vertical Earth Kilometer, de Kassel. Tudo isso tem relação com o cinema sem filme, assim como a ideia do espelho e da invisibilidade. São possibilidades do cinema sem filme, que são muitas.
Livia Flores
Acho que o cinema sem filme não tem nenhuma especificidade. Pode ser definido por arte. Talvez seja esse mistério de como fazer para que alguma coisa se produza na cabeça de quem está vendo o trabalho. Ou de quem não o está vendo, mas está tendo alguma informação que o leve a pensar, a imaginar. Essa proposição do Walter De Maria é uma proposição para que você pense nela, você não tem o menor acesso à invisibilidade. O artista supõe que aquilo já seria suficiente para que o cara possa vivenciar o trabalho de alguma maneira.
Há o interesse pela imagem em movimento, que vem desde os desenhos. Vários desenhos formando uma sequência, uma sintaxe que você pode estabelecer entre eles. Tanto que, quando fiz os primeiros filmes em 1998, eu falava da relação entre cinema e desenho. O filme como aquilo que permitiria ver certos desenhos acontecendo. Só que os desenhos não acontecem mais no papel, com a minha mão, mas acontecem ali no que eu escolho enquadrar. A segunda questão, mais recente, é a do espelho e da invisibilidade: como eu posso enquadrar o que acontece? Como perceber a realidade como cinema? Eu acho que está na cabeça de todo mundo. Cem anos depois do surgimento do cinema, o nosso modo de ver as coisas está tão entranhado pelo cinema que a gente fala: ah, isso parece um filme. A publicidade fala: a vida sem roteiro. Milhões de situações aludem ao cinema. A gente vive um estado de ser cinemático.
Outro momento bem significativo foi a primeira experiência com “cinema”, em 1998 (cinema entre aspas, né? Você ter uma câmera, acioná-la, o filme corre, alguma coisa acontece na frente da câmera. É essa experiência que eu estou chamando de “cinema”). Quando fiz a exposição em 1998, não fiz pensando em usar filme, não era nada tão sofisticado. Eu não conhecia os meios, fui entendendo as condições aos poucos, na prática. Eu tinha interrompido o trabalho em 1994, porque tive filho e fui fazer mestrado. Em 1998, estava com uma exposição para fazer e tinha apenas duas frases e uma imagem na cabeça -- capim ao vento. Comecei a me perguntar: como faço para ter essa imagem no espaço? Eu não tinha a menor ideia de valores, 35 mm, 16 mm, nem pensar, era muito caro. Foi aí que cheguei no super-8. O vídeo não me interessava por conta da limitação do monitor, eu não gostava de pensar na imagem dentro da caixa. Projetores talvez não fossem ainda tão comuns.
Ricardo Basbaum
Acho que não existiam nessa época.
Livia Flores
Era algo inacessível.
Wilton Montenegro
Não era aquela lente enorme que se colocava na frente da televisão? [risos]
Livia Flores
Cheguei no super-8 como uma possibilidade de projetar imagens. A primeira experiência, o primeiro choque com esse tipo de material, foi a percepção de que eu teria que produzir a imagem de capim ao vento. Eu morava em Grota Funda na época. Capim ao vento era a paisagem dominante [risos]. Quando eu consegui finalmente juntar câmera, filme e carro, cheguei lá e não tinha vento. Como fazer o filme? Como fazer capim ao vento sem o vento? Um dia procurando vento, segundo dia, terceiro dia, até que finalmente se fez o vento. Então, é essa percepção de que você pode depender das condições, mas que você também pode produzi-las. O filme vai se produzir na realidade. Uma realidade sendo produzida sobre outra realidade. Essa percepção, ao mesmo tempo que permite o filme, também permite o sem filme. O filme torna-se facultativo. Algo pode ser registrado ou pode ficar sem registro. O filme é simplesmente essa captação, essa impressão sobre determinada superfície...
Mas só para terminar essa coisa do espelho: o espelho era um recorte. Um espelho perturbado por aquela trama, desnaturalizado, que permitiria talvez essa percepção, de que o que acontece em frente a ele pode ser visto como essa produção de cinema sem filme. Tanto que, quando eu defendi a tese, aquilo era uma sessão única de cinema sem filme. Ali tinha a situação de uma sessão de cinema, as cadeiras enfileiradas, uma cena na frente e, atrás dessa cena, os espelhos refletindo a cena, sem registro. Aquele espelho não guarda o registro.
Ricardo Basbaum
Agora, você achar que a ideia de cinema já está tão dentro da nossa maneira de perceber o mundo – enfim, já estava desde o fim do século XX –, isso poderia ter sido suficiente, mas não foi, e você ainda quis fazer um filme, fazer cinema, entrar por esse universo. O que é uma maneira de você arrancar esse cinema do senso comum e entrar para outro lugar. Essa cena de que você falou agora me lembrou um pouco o seu trabalho de hoje. Li alguma coisa sobre “espaço pós-dramático” em um texto seu. E você está entrando em uma conversa sobre cena – acabou de se referir sobre sua defesa de doutorado como cinema + cena. Além do nome “cinema”, do nome “teatro”, gostaria que você dissesse como isso volta e se abre para outras práticas em seu trabalho. É um modo muito particular de pensar esses territórios.
Livia Flores
Sem dúvida. Por coincidência, tornei-me professora do Curso de Direção Teatral [desde 2009 leciona História do Espetáculo na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ]. E é muito curioso, porque aí eu começo a olhar para o cinema sem filme com olhos de teatro. Será que aquilo que estava pensando como cinema é teatro? É algo que venho pesquisando.
Wilton Montenegro
Mas isso já não estava na sua dissertação de mestrado, em que você fala da Lygia Clark? Na dissertação, você dialoga com Lygia, Beuys e Nietzsche. Nietzsche escreve sobre o nascimento do trágico, Lygia tem uma representação performática o tempo inteiro, e Beuys também, não só no trabalho com o coiote, mas nos ambientes que ele cria. Não é tão estranho que você chegue, de repente, ao teatro.
Ricardo Basbaum
Sobretudo quando você carrega isso para sua capacidade de processar e trazer para a prática. Como você faz essas reviradas?
Livia Flores
Não sei, talvez eu tenha essa habilidade. Sou muito tentada por esse exercício de inversão das coisas, de virar ao avesso, ao contrário. De olhar de outro ponto de vista. Com relação a Lygia, Beuys e Nietzsche, realmente é curioso, porque o ponto de partida foi a questão da cura do homem. Nietzsche vai diagnosticar o niilismo como a doença do homem moderno, e Zaratustra é o convalescente que sofre em si os efeitos do niilismo e procura dar a volta. Esse era o ponto de partida. Escolhi Lygia e Beuys por essa afinidade com a questão de trabalhos de cura. Beuys com relação à própria história da Alemanha, uma cura social mais ampla. E a Lygia Clark em suas experiências de cura, experiências psíquicas, como dizer...
Wilton Montenegro
Os tratamentos mesmo, não é? A Lygia tratava as prostitutas.
Livia Flores
É, mas antes disso, quando ela vai a Paris e trabalha com grupos. Não é tanto a cena de consultório, mas uma cena de sala de aula, da aula saindo pra fora, indo pra cidade. Era uma coisa que eu achava muito interessante. Então, no decorrer da dissertação, o ponto em comum entre os dois acaba sendo a questão da posição do espectador. Acho que ali eles abrem definitivamente esse caminho, essa passagem do moderno para o contemporâneo.
Glória Ferreira
Você trabalha com os filmes, com instalação descontínua, projeções de filmes no espelho, rebatimento etc. É quase como se você desnorteasse os limites físicos do ambiente, com as várias projeções. O espectador tem uma participação como sombra, reflexo. Ou, citando Fernando Gerheim sobre o seu trabalho: “as imagens são um espaço entre o olhar e as coisas”. Na tese, e mesmo no texto da Arte & Ensaios [n. 15, 2007], você assinala que o cinema sem filme poderia suscitar no participador uma certa passagem de responsabilidade, que seria de autoria. Como você vê e/ou pretende suscitar a participação do espectador? Qual a importância desse dado?
Livia Flores
Nunca trabalhei diretamente com a participação do espectador.
Wilton Montenegro
Salvo a sombra do espectador.
Livia Flores
É, mas ela é quase involuntária. Talvez mais do que a participação, a presença do espectador tem sido importante. A presença dele está sempre sendo acusada. Quando ele entra no espaço e, mesmo sem querer, acaba projetando sua sombra. Ou então, como acontecia no Sérgio Porto [Puzzlepólis, 2002] com os tacos: quando o espectador entrava, fazia barulho. A instabilidade do espaço físico é uma questão que me interessa bastante. Essa presença do espectador é uma presença sensível. Ela é incorporada ao trabalho, faz parte dele.
Glória Ferreira
No cinema sem filme isso fica ainda mais evidente.
Wilton Montenegro
Vou complementar a colocação da Glória. Na sua defesa de tese, a presença do espectador não foi fundamental para a existência do trabalho? Você colocou as cadeiras como cinema, e um dos fragmentos ao fundo. A obra só podia existir com o espectador de cinema, ou seja, a banca, convidados, artistas, todo mundo é espectador. A obra só se realiza ali, naquele caso, com a presença do espectador.

Livia Flores
Sim, o espectador faz parte da cena, assim como o artista.
Glória Ferreira
A sua exposição em Recife, no Pátio do MAMAM, por exemplo [2008], que tive a oportunidade de ver, só existia para quem estivesse ali naquele momento. A obra não preexiste.
Livia Flores
Aí o cinema sem filme já começa a funcionar, quando você percebe que a obra não preexiste, que ela é constituída pelo olhar. Mas o que comecei a chamar de cinema sem filme, antes dos espelhos, foram as instalações realizadas com o Clóvis, Puzzlepólis, no Sérgio Porto [2002] e na Bienal [2004]. E, na sequência, Move [2004, Künstlerhaus Stuttgart], com objetos comprados na rua que transporto para a galeria. Trabalho aí com a ideia de projeção, não uma projeção física, proporcionada por um aparelho, mas a projeção de cada um: quando o Clóvis entra em cena, ou quando os objetos recolhidos e vendidos por moradores de rua, ou seja, ressignificados, são recolocados em circulação. São objetos descartados que voltam a circular. Isso começa a provocar muitas projeções coletivas, porque toca em questões sensíveis da nossa vida. Eu trabalho com essa outra dimensão da ideia de projeção. Aí é que penso na responsabilidade. Não é tanto a ideia de coautoria. A Lygia Clark e o Hélio Oiticica pensavam no espectador como um cocriador, participante. Eu falei em algum momento na responsabilidade por aquilo que você está vendo, como você está vendo.
Glória Ferreira
Mas você diz passagem de autoria, também.
Ricardo Basbaum
Você acabou de mencionar também uma marcação curiosa, que achei muito interessante – trazida pelo Wilton –, entre Lygia Clark e Beuys, entre o social e o individual, essas responsabilidades de que você está falando. Há um fio curioso aí. Você fala em certa circulação de objetos pela rua, que você recolhe e recicla. Ou quando você introduz esse outro personagem que fala, de certa maneira, através do seu trabalho, e você fala através dele. Tem algo que reverbera aí nesse interesse entre Beuys e Lygia Clark. Que responsabilidade é essa, social, do artista, da obra, com a recepção, com a sociedade?
Livia Flores
Responsabilidade talvez seja uma palavra muito pesada. Não tem nenhum tom acusatório, demandante.
Ricardo Basbaum
É um compromisso seu com o trabalho, com as conduções que você adota – é nesses termos que estou falando.
Wilton Montenegro
O Basbaum, no texto sobre a exposição no Agora/Capacete [“Super”, 2000], escreveu que “perpassa o inconsciente e realiza-se na arquitetura é o que me parece o importante núcleo de choque do trabalho”. Acho que é isso, há uma arquitetura que se revela o tempo inteiro, os espaços de convivência, como naque la instalação do Prêmio Sérgio Motta, que tem aquela circularidade, mas é um espaço permanente, de uma sedução do local. O local seduzindo através da instalação, da arquitetura no espaço. Não há bloqueio da visão nunca, ou é um espelho e a visão volta, ou um vidro e a projeção passa através do vidro e vai para a parede, ou é uma luz que vem de trás. São sempre relações de extremos, de sombras que surgem de penumbras. Uma coisa muito beckettiana, que eu acho que tem no seu trabalho inteiro. Acho importante esse texto do Basbaum falando sobre a sedução arquitetônica.
Livia Flores
Na exposição do Agora, o Emanuel tinha 6, 7 anos, entrou na exposição e falou: mãe, você tirou a força das paredes? Adoro essa observação, pois é a percepção de que os espaços de arte são casquinhas dentro da cidade. São paredes muito tênues. Para mim, o interessante é abrir buracos nas paredes. Quando eu trouxe o Clóvis para dentro dessas paredes, é um pouco essa abertura, essa vontade de tornar as paredes mais comunicantes.
Glória Ferreira
Quase como se você desmaterializasse o ambiente.
Livia Flores
E aí essa coisa de cinema sem filme se torna importante. Cinema sem filme não tanto pela captura de uma imagem em determinado lugar, que depois vai ser transportada, mas pelo deslocamento dos próprios objetos. Nesse caso, funciona para mim como cinema sem filme. A coisa que acontece. em 3D em frente à câmera, se não tiver câmera, pode continuar acontecendo.
Glória Ferreira
Em um texto do Ricardo, de 2001, ele diz que no seu trabalho “Há filme mas não existe cinema”. Em textos recentes, referindo-se ao cinema sem filme, você diz que este é facultativo. Quando você se referiu, na tese, ao filme ser facultativo, trata-se de uma tentativa de negociar com a banca do doutorado? No seu trabalho, claro que ele pode ser facultativo, e o cinema sem filme pode existir sem necessariamente fazer referência ao filme, digamos. A questão cinemática pode acontecer de diferentes maneiras. Você poderia falar um pouco sobre a relação entre filme e cinema?
Livia Flores
O meu interesse era descobrir maneiras de o cinema acontecer sem aparato, sem dispositivo. Por isso fui no Duchamp, em O grande vidro, que se tornou um núcleo importante da tese de doutorado. Mas não foi uma negociação com a banca, talvez tenha sido comigo mesma. Como entender o trabalho com filme e o sem filme sem tratá-los como coisas separadas, sem ter que recorrer a um discurso do tipo: teve aquela fase em que trabalhei com filme, depois mudei de fase e agora trabalho sem filme. Não se tratava de separar, mas de conseguir conectar, conseguir uma polivalência.
Glória Ferreira
Quando você trabalhar com super-8, é quase como se você estivesse explorando a própria etimologia da palavra cinema – “kínema-ématos+graphein” – a escrita do movimento, essa escrita do movimento com a imagem, temporalizada, essa montagem expandida. Como, por exemplo, nas diversas montagens de Cadeia alimentar. De certa maneira, já anunciava que há filme, mas não há cinema.
Livia Flores
Volta e meia eu penso em como essa gramática cinematográfica – essa escrita, essa inscrição de luz, inscrição de um determinado momento numa película sensível – é importante para todo o pensamento do trabalho, tanto que eu só fiz um trabalho em vídeo [Rastreamento do rio morto, 2005-10]. Para mim, há uma diferença imensa entre vídeo e cinema – são como água e vinho [risos]. Tem uma gramática nesse pensamento cinematográfico que eu acho que faz articulações importantes com o trabalho, uma poética própria desse tipo de material, desse modo de captura, desse pensamento, que são significativos.
Ricardo Basbaum
Mas o seu desinteresse pelo vídeo passa por onde?
Livia Flores
Não é um desinteresse, é uma distância. O vídeo não tem esse dado de latência que o filme tem. O que sinto falta no vídeo é que não tem escuridão, não tem preto, não tem sombra total. Acho muito limitador. E não tem também essa fisicalidade da impressão da luz sobre a superfície sensível. Não tem unidades fixas de tempo: eu gostava muito daqueles rolinhos de super-8, pois cada um tem três minutos e pronto, aquilo é tudo. Você gasta um, é um e foi. Você lança uma seta, ela está lançada; quando você aperta o botão não tem volta, não apaga, é aquilo, se imprimiu, foi o que foi. Eu gosto desses elementos.
Luiza Mello
Essa questão da gravação de que você está falando também tem a ver com os trabalhos que utilizam papel-carbono. Os sonhos que você escrevia no papel-carbono, que abrem a luz...
Livia Flores
É, a luz vinha da escuridão. É uma espécie de escavamento nessa escuridão que permite ver alguma coisa. Daí essa ideia de película sensível à luz. Muitas vezes fiz filmes que nem são possíveis de mostrar, são tão escuros, tão no limite da escuridão, que você só consegue ver no projetor de super-8. Se for passar para qualquer outra mídia, acabou, não existe.
Wilton Montenegro
São as sombras que vêm na penumbra. Mas você vai ter que se adaptar, pois não há mais filme super-8.
Livia Flores
É, mas eu não preciso necessariamente trabalhar com imagem em movimento, nem com vídeo.
Wilton Montenegro
E o loop? Há sempre, não só na instalação, mas quando você filma aquele carro vermelho, dando voltas. Aquele seu caminho diário para Vargem Grande, todo dia você fazia o mesmo caminho. É um loop, uma repetição constante na própria vida. Uma coisa meio psicológica, mas é como se você viajasse ao lado de você mesma. Você estava sozinha, tendo a si própria como companhia. Às vezes, você tinha o olho da câmera e filmava. Mas filmava eventualmente um acidente na estrada, uma cobra que é um loop. Um fragmento de super-8, a cobra esmagada. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, a produção de pensamento desse processo. Ou ia só no “piloto automático”?

Livia Flores
Não, não tem nada de piloto automático. Não tem uma coisa mecânica de estar sempre filmando um determinado trajeto, nem de estar sozinha, pelo contrário, raramente fazia filmes sozinha. O que existe é uma observação muito atenta dos trajetos no sentido de estar prestando atenção em acontecimentos dentro do cotidiano. Acontecimentos ordinários ou extraordinários, e a tentativa de passar isso para filme. No caso das cobras, na verdade eu estava procurando outra coisa. A minha questão naquele trabalho era experimentar a aproximação do objeto e o momento em que ele some da imagem. Quanto mais próximo, mais ele escapa. A colisão seria o momento em que ele desaparece. Eu estava experimentando isso. Andava de carro, olhando coisas à margem da estrada para perceber o que me interessava, o que eu poderia filmar, como filmar essa passagem. Aí vi o que eu pensava ser um pedaço de borracha, só que quando cheguei perto era uma cobra atropelada. Aquilo foi muito forte. Depois fui descobrir que naquela estrada havia muitas cobras atropeladas. A cobra atropelada se torna a imagem disso que eu estava procurando. A proximidade total é também a perda do objeto.
Wilton Montenegro
Nesse movimento de aproximação do objeto, você vê qual é o limite dessa aproximação, e então projeta isso em loop. Ou seja, esse objeto sempre reaparece. Tem uma coisa na sua resposta que se liga ao que a Luiza falou: da mesma maneira que você se aproxima da cobra e ela vai desaparecer, quando você coloca o carbono no chão, praticamente invisível – o carbono é o convite da exposição, né?! –, vaza o texto através, e ele fica no chão, em um lugar difícil, com uma luz pequena. Tem sempre esse limite, esse risco do limite, o risco do invisível.
Na instalação com o Clóvis em São Paulo, a gente chega e vê aquele escândalo, a força criativa de um louco maravilhoso. E o seu trabalho é o trabalho mais discreto e invisível possível. Demanda um esforço buscar, procurar pelo trabalho. O trabalho está escondido atrás do trabalho. No Sérgio Porto, foi um pouco mais fácil, pois você tirou o chão do espectador. Em São Paulo, na Bienal, você retirou o olho do espectador, você obrigou o espectador a abrir mão da luz que brilhava para poder ver o que estava na sombra por trás. De dia, aparecia a cidade, por trás daquele filtro, aquele filme escuro, aquele espelho negro, translúcido. Mas aparecia a cidade de dia. À noite, a cidade desaparecia, e duplicava a cidade do Clóvis. O que é incrível é que fica muito claro, no escuro, que o trabalho ali é o seu trabalho. O Clóvis é um convidado, um parceiro, mas um convidado para expor um pensamento. Esse limite seu é muito interessante. Você está sempre na radicalização. Não sei nem se a palavra limite deveria ser empregada se há uma coisa tão radical o tempo inteiro. Não tem meio. Seu trabalho não é um trabalho onde eu consiga ver meio, está sempre numa borda, as coisas ocorrem num horizonte de eventos.
Ricardo Basbaum
Gostaria de retomar um pouco o termo “labilidade”, essa capacidade de tangenciar e ao mesmo tempo processar, trazer para dentro de uma prática. Porque a gente se conheceu há muito tempo atrás, em 1984/1985 – você estava vindo da Alemanha, em um momento de visita ao Rio, ou estava para ir para lá...
Livia Flores
Foi em 1986, eu tinha vindo ao Rio pela primeira vez depois de dois anos lá.
Ricardo Basbaum
Sim... Para nós aqui – e somos de uma mesma geração – foi muito forte, nos anos 1980, o contato com a dinâmica local, com toda a “efervescência” que acontecia aqui, tanto com os outros jovens artistas quanto com a abertura política. E você estava lá, em outro continente. Também há uma labilidade aí, em estar ouvindo de longe uma certa dinâmica, querer manter contato, escutar. Pegando também a partir da fala do Wilton, e ampliando, gostaria de ouvir mais sobre esses pontos de contato, essas bordas.
Livia Flores
Sem dúvida, essa visão periférica me interessa muito. Estou sempre me deslocando para uma margem. É uma tentação [risos]. É inevitável, uma tendência à lateralidade.
Glória Ferreira
Falando sobre sua formação, você cursou a Academia de Arte de Düsseldorf, mas antes você havia feito ESDI [Escola Superior de Desenho Industrial]. Depois fez Comunicação e, então, Linguagens Visuais. É um percurso interessante. Em 1983, você fazia ESDI, e já fazia escultura?
Livia Flores
Só fui fazer escultura na Alemanha, mas desde os 14 anos, aliás, desde criança, frequentei a Escolinha de Artes do Brasil, e dos 14 aos 16 fiz regularmente xilogravura, com José Altino. Desenho Industrial foi uma maneira de...
Luiza Mello
Uma maneira de fazer uma coisa útil, a partir do trabalho com arte. [risos]
Livia Flores
É, vamos encarar uma realidade... [risos] Mas foi da ESDI que surgiu meu interesse por semiótica, semiologia...
Glória Ferreira
E como foi na Alemanha? Você via muitos filmes...
Livia Flores
Sempre gostei muito de cinema. Hoje, quando penso na Alemanha, penso que foi outra vida dentro da minha vida. Foi muito intenso. Vivi à margem do que acontecia aqui, Geração 80 e outros tantos acontecimentos, e eu estava lá naquela marginalidade central. Estive lá de 1984 a 1993. Estava na queda do Muro de Berlim.
Wilton Montenegro
Paul Ricoeur fala que ali foi o fim da idade moderna. Que ali termina o século XX.
Livia Flores
É, acho que ele pode ter razão... Não sei se ali ou em 2001, no 11 de setembro. São dois pontos bastante cruciais. Mas o tempo na Alemanha foi um processo, talvez quatro anos e meio para chegar e quatro anos e meio para voltar [risos]. Eu explico assim o meu tempo de permanência lá. Chegou um momento em que pensei: ou fico aqui para sempre e me torno uma artista alemã ou tenho que voltar para o Brasil e ver onde vou me encaixar.
Wilton Montenegro
Mas você não vem para ser uma artista brasileira, você vem para ser uma artista.
Livia Flores
É, eu não pensava que fosse me tornar uma artista alemã, não gostava da perspectiva de me ver desconectada de uma certa tradição cultural, não queria abrir mão desse campo de interlocução.
Ricardo Basbaum
E que Brasil era esse, distante?
Livia Flores
Era muito distante. Não havia internet. Era carta e demorava pra caramba. Telefone era caríssimo. Quando apareceu o fax, eu achei incrível. Quer dizer que se eu mandar um desenho alguém vai receber lá, na hora! Eu achei aquilo genial. No final é que começou a coisa do computador. No tempo em que trabalhei na Deutsche Welle traduzindo notícias para serem irradiadas para os países de língua portuguesa, às vezes eu tinha acesso a algum jornal brasileiro, JB, Folha, e muitas vezes aquilo era um soco no estômago, de uma violência incrível.
Glória Ferreira
O que você via? O que a interessava naquele momento?
Livia Flores
Exposição. Arte, arte, arte. Naquele momento, na passagem dos anos 1980 para os 1990, Colônia era o centro, a ligação direta com Nova Iorque. Era muito movimentado, eu via tudo e havia de tudo para ver, em quantidade e qualidade. Richter, Jeff Koons, Tuymans, Baselitz, Kruger, Paik, os fotógrafos alemães que vi crescer (literalmente, nos formatos) desde a Academia, enfim, estava todo mundo ali, no calor da refrega.
Ricardo Basbaum
Mas o que você identifica daquele momento, daquela dinâmica?

Livia Flores
Inicialmente, quando cheguei lá, em 1984, a discussão era sobre o retorno da pintura. Eram os “novos selvagens” [neue wilde], toda uma nova geração de pintores. Me lembro de me sentir muito nauseada [risos]. Na Bienal de Veneza, em 1984, aquele excesso de pintura me dava uma náusea quase física. Na verdade, não sabia muito bem onde eu estava, como me situar ali. Talvez tenha sido um corte muito radical. Saí do Posto 9, do Parque Lage e fui para uma Alemanha da Guerra Fria, uma Alemanha ainda muito alemã, nada multicultural. No primeiro lugar onde morei, da janela, podia escolher entre olhar para um bunker ou para um campo militar americano. Havia a barreira da língua, foi difícil me situar e entender o que eu estava fazendo ali. Ainda recém-chegada à Academia, teve a morte do Beuys (1986) e um pouco depois, ou um pouco antes, não me lembro, o Markus Lüpertz, na época o representante mais bem-sucedido daquela geração de pintores, com seus anéis e sapatos reluzentes, assumiu a direção da Academia. Aí deu para entender que estava se completando uma vigorosa troca de paradigma. A sala do Beuys, das reuniões da FIU [Free International University], foi totalmente “higienizada” para servir como prosaica sala de professores. Nunca funcionou, óbvio.
Wilton Montenegro
Você marca aí o que você não quer, o que você não gosta. Você disse que não sabia o que queria, mas você sabia o que não queria. Sua reação quanto à pintura é
muito clara.
Livia Flores
Não tenho nada contra a pintura. Gosto de pintura e, se aprendi alguma coisa nessa viagem toda, foi a ver pintura, não necessariamente fazer, mas ver.
Wilton Montenegro
No seu fazer, eu digo, pois nos conhecemos há muitos anos e eu nunca vi uma pintura sua. Já vi desenhos inúmeros, mas nunca vi uma pintura. A pergunta é se alguém chamou sua atenção ou se houve desdobramento para alguma linguagem?
Livia Flores
Tinha o Beuys, que eu fui conhecendo, e entendendo o que era Beuys, algo extremamente polêmico, capaz de suscitar muitas emoções, sobretudo em Düsseldorf, que era a cidade dele. Tanto é que volto e escrevo sobre ele. Foi uma maneira de tentar entender melhor o que eu havia percebido. Foi uma abordagem muito importante para meu entendimento de arte.
Luiza Mello
Nessa época na Alemanha, você fazia objetos e desenhos?
Livia Flores
Na Alemanha, eu pintava, porque fui pra lá com essa ideia: eu desenhava, mas todo mundo pintava, então eu também queria pintar [risos]. Mas minha professora-orientadora, Beate Schiff, era escultora. Lembro de ela mandar fazer uma maquetezinha, e eu fiz meio de sacanagem, qualquer coisa. Ela percebeu, claro, mas adorou. E aí começou a me mandar para as oficinas de metal, de madeira. Acabei indo pro gesso. Aí volta a coisa do positivo e negativo, que vem lá da xilogravura. Talvez o entendimento desses extremos, da possibilidade de inversão, venha muito daí – da xilogravura, do gesso, dessa coisa da fôrma. Fôrma positiva, fôrma negativa – a fôrma da fôrma da fôrma.
Glória Ferreira
E do ponto de vista teórico?
Livia Flores
Eu frequentei poucos cursos teóricos. Teve um que foi interessante, sobre grupos de artistas, com um professor de sociologia da arte que tinha essa pesquisa. Mas não me lembro de muita relação com a teoria. Isso eu só vim recuperar aqui. Quando fiz o mestrado em Comunicação, já se deu uma abordagem teórica. Eu só vim a ter contato com alguma visão de história da arte, questões de arte moderna e contemporânea, no doutorado. No fundo, minha formação em artes foi bastante caótica.
Ricardo Basbaum
Mas como vocês discutiam os trabalhos? Havia alguma discussão de formação de repertório?
Livia Flores
Era uma conversa entre professor e aluno. Alguma discussão com os colegas, mas não muito. A Academia era um lugar de fazer, eu acordava, ia pra lá, trabalhava e voltava pra casa.
Luiza Mello
Mas você tinha interlocutores, amigos, outros artistas, que estavam na universidade também, e com quem você trocava ideia, alemães ou outros? Tinha gente de outros países?
Livia Flores
Tinha. Essa classe onde fiquei acolhia estrangeiros. Porque havia classes completamente fechadas, em que só entravam alemães. Em algumas, nem mulheres. Mas isso mudou do momento em que entrei para depois, houve maior afluxo, maior abertura.
Luiza Mello
É que eu fico imaginando você na Alemanha nos anos 1980, jovem, devia ser um trabalho bem solitário.
Wilton Montenegro
Você saiu da ESDI para ir pra lá? A ESDI ainda dava aquela formação extraordinária? O pessoal que saía de lá era o mais bem-preparado, em termos de conhecimento de cultura.
Livia Flores
Fui um pouco depois, três anos depois de me formar. Não sei... Eu saí da ESDI com algumas noções.
Glória Ferreira
De qualquer maneira, você tem uma bagagem teórica bastante importante. Gostaria que você falasse da relação entre teoria e prática, mas também entre linguagem e imagem. Em relação à Rua do hotel sem passado [2000], você dizia: “As palavras são pura insistência mental... [...] vagas indicações para o futuro cuja única certeza é agora.” Como você caracterizaria essa trama espaço-temporal da relação entre imagem e linguagem?
Livia Flores
Não sei, acho que, no fundo, no fundo, gosto muito de poesia, apesar de ser uma leitora caótica, pois leio o que me cai nas mãos, sem maiores referências. Então, essa relação com as palavras é importante, para mim, para o trabalho...
Glória Ferreira
Você faz uma relação com o ready made, com as palavras ready made.
Livia Flores
Sim, nisso de pegar frases prontas. As palavras ou as frases acabam sendo uma maneira de dar início ao trabalho, a um determinado projeto. Ou então elas organizam vários elementos díspares entre si, reunindo filmes, por exemplo. Esse é o caso das frases “rodoviária – rua do hotel sem passado – centro”, que aparecem num fragmento de sonho. Em Portugal, também tem três frases que vão organizar todo um conjunto de trabalhos: “liquidação de toda a existência, passa-se, trespassa-se”. São frases encontradas em vitrines de lojas, num momento em que Portugal passava por uma mudança econômica grande. São frases ready-made, como também as do sonho, num certo sentido, porque não há uma intenção consciente, elas aparecem, são colhidas.
Glória Ferreira
Poderíamos pensar em um certo viés conceitual?
Livia Flores
Através da palavra? Acho que sim. Não sei exatamente o que você está chamando de um viés conceitual...
Glória Ferreira
Um viés conceitual é quando o conceito está impregnado, não é a forma que está definindo...
Livia Flores
Sim, com ou sem palavra. Essa é sempre muito mais a tônica do que questões formais, não que elas desapareçam totalmente.
Glória Ferreira
Engraçado, “para o futuro cuja única certeza é agora”. Esse agora com essa base teórica sua me parece engraçado... É quase poesia, mas você tem um embasamento teórico, uma fluência nessas coisas que não deixa que seja só “agora”, me parece que ela continua como palavra.
Livia Flores
Eu vejo meu embasamento teórico sempre muito precário. Essa impressão de labilidade persiste, seja na teoria, seja na prática. Nada me parece muito assentado, nenhuma construção é muito firme. A poesia talvez seja a maneira que eu encontre para concatenar as coisas, um modo de expressão em que o arcabouço teórico não está tão bem estabelecido, ou simplesmente não dá conta.
Wilton Montenegro
Mas é poema? Você escreve poema, você dispõe o poema espacialmente, escreve numa superfície. Você não faz jogo tipográfico, de trazer para o primeiro plano ou para o fundo, mas você utiliza aquele espaço do papel, e naquele espaço você coloca sempre três, quatro textos, ou dois textos, e eles estão sempre em uma disposição espacial clara. Há um diagrama, uma forma nesse conteúdo. Prefiro pensar que há uma questão poética nisso, e que é exatamente aquilo que não se dá a ver no seu trabalho, que é a coisa mais fechada, mas íntima. Há certa ironia também quando você pega o “trespassa-se”, que tem um sentido em Portugal, e traz para outro sentido em outro lugar. Toda vez que eu leio algum texto seu, muito curto, uma frase... Como aquele texto que você escreveu para a Glória (“By”, 2004-2006): “A paisagem passa com tudo o que nela se passa; passamos por ela ao mesmo tempo que o tempo.”
Livia Flores
Isso é bem a coisa do filme [risos]. Dessa imagem em movimento, dessa captura em movimento, paisagem-passagem, como diz o Basbaum.
Luiza Mello
Tem uma coisa que eu queria lhe perguntar, que é outra coisa que tem a ver com o cinema, mas não com a imagem em movimento, e sim com a edição. É a história dos livrinhos – acho que desde a Alemanha você já tinha feito um. Você tem vários livrinhos onde edita as imagens, e aquilo tem um sentido independente, é claro que tem a ver com a série de um trabalho que você está desenvolvendo, mas é outro trabalho, que é editar imagens em um objeto. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, pois como me interesso por esse assunto – livro – sempre reparei nesse seu trabalho. E acho que isso tem a ver com cinema também, porque editar é fazer uma certa edição de um número de imagens... Você começou a fazer filme quando voltou da Alemanha?
Livia Flores
É, bem depois, eu voltei em 1993 e só comecei a fazer filme em 1998. Fiz os livrinhos quando estava voltando, como uma maneira de fazer um registro, dar uma forma, fazer uma síntese do que eu tinha produzido lá. Desde desenho [A série da história, 1994], passando por uma série de esculturas em gesso [Family memory, 1987], até a produção realizada no último ateliê [Daylight, Nightlight, 1993] – e o resultado são os livros. Em Family memory, o trabalho é o livro, as formas em gesso foram perdidas e nem interessam, o que interessa é a formalização ou o sentido que o livro vai dar àquilo. Em outro, Potências [1992], existe um trabalho que acontece no espaço e foi exposto na galeria Sérgio Porto, mas o livro fecha ou abre aquilo de outra maneira. Então, o que há em comum entre o livro e o filme é uma certa arquitetura da linha, um pôr em linha.
Luiza Mello
Porque, independente de ter dinheiro, você fazia. Aquela edição de Recife que queremos colocar no livro, não tinha dinheiro. É tudo em xerox, e foi importante para você fazer aquela reunião de imagens. É isso que eu queria saber, justamente, se eram sempre registros de um trabalho, para você ter um documento, ou se eles tinham uma vida própria.
Livia Flores
Muitos tinham uma intenção inicial de servir como registro, mas acabaram ganhando vida própria; já outros foram pensados desde o início como livro-objeto, como por exemplo LOOOP [2005], aquele dos zeros.
Wilton Montenegro
Você pode falar sobre três trabalhos, na sequência? O livro Labirinto, a moviola, e o livro da tese, aquela moviola da tese.
Livia Flores
A tese na moviola não foi totalmente realizada. Só existe em projeto [risos]. O livro-labirinto é uma impressão serigráfica sobre espelho, ele abre...
Wilton Montenegro
Você vai ver o livro e se vê, é uma planta de um apartamento e você é, literalmente, absorvido pela leitura.
Livia Flores
Não é exatamente uma planta de apartamento, mas lembra. Eu nem gosto tanto de me ver, prefiro ficar olhando as coisas através dele, porque ele permite uma inversão radical do ponto de vista. Eu ainda quero fazer um filminho em vídeo, uma viagem de ônibus – imaginei de ônibus, não sei por que [risos]. Seria ler o livro-labirinto no ônibus e filmar essa paisagem invertida (em vertigem), que passa por ele. Outro lugar onde eu quero filmar ou fotografá-lo é lá no seu apartamento [referindo-se ao Wilton], porque lá tem um labirinto que é a própria cidade. Essa superfície de reflexão, de rebatimento, é o que me interessa. A moviola – na verdade, um editor de super-8 – era um trabalho que estava na exposição do Agora. Ali o que me interessou foi a possibilidade de o espectador mover o filme, essa força motriz própria do espectador que imprime ao filme velocidade e sentido.
Wilton Montenegro
Aquilo que o Basbaum falou no início, da presença do espectador, da sua intenção em relação à presença do espectador.
Livia Flores
Ali ele realmente coloca a mão no trabalho e move o filme literalmente. Com relação ao terceiro, a minha ideia era imprimir toda a tese em letras maiores em uma grande tripa de papel e construir um sistema de manivelas que permitisse ao espectador (leitor) rolar o texto. Me interessava tornar visível esse esforço físico de leitura.
Wilton Montenegro
É uma moviola, a palavra como imagem.
Ricardo Basbaum
Passando os olhos no material que você nos enviou, fiquei impressionado com a tese, as questões desenvolvidas no mestrado, o texto que você escreveu para aquele evento de que participamos juntos em Portugal, Unneeded Conversations (2010). Queria que você falasse também desse lugar como artista que está em labilidade com a universidade e com essa sua escrita tão interessante, que tem uma consistência forte. Quando o Wilton perguntou, você falou de uma inconsistência teórica, e eu fiquei pensando na escrita de artista em que, de fato, não importa a consistência teórica: importa a capacidade de ler poesia na teoria e ser capaz de fazer uma costura – enfrentando essa inconsistência teórica – que trabalha em um nível de compreensão da poética do trabalho passando pela teoria e pelo manuseio do material. Então, essa é uma questão que me interessa: como você se pensa, se constrói como artista, nesses espaços todos de trabalho, enfrentando o desafio de se inventar como artista não só nos lugares do circuito habituais, mas passando ainda pelo lugar de trabalho na universidade. Porque a universidade está se tornando um lugar cada vez mais produtivo e interessante, de fato – fico vendo os jovens artistas entrando para fazer mestrado; nós entramos mais tardiamente. Gostaria que você falasse um pouco disso, pois acho que é uma questão importante: o espaço em que podemos nos pensar como artistas também com outras referências, e como isso é desafiador – porque não são modelos prontos.
Livia Flores
Acho que isso abre muitas possibilidades, talvez até um pouco invisíveis, pois a visibilidade disso se torna algo complicado, difícil. Tenho sempre a impressão de estar trabalhando no negativo, daí talvez a insistência nessas potências de poéticas negativas, que é um assunto que está me interessando teoricamente. De você entender uma poética como algo que não existia e passa a existir, e que envolve um determinado trabalho; mas me interessa também esse trabalho que se desenvolve quando alguma coisa deixa de existir, essa passagem outra forma. Quando a gente está falando de cinema sem filme, é isso, teatro sem teatro... O que não tem nada a ver com a ideia de morte, morte da arte, morte da pintura, morte disso, morte daquilo. São novas possibilidades de criação nesse desfazimento. Por outro lado, acho a vida como artista na universidade ainda bastante problemática. Não achava que seria tão árdua, mas efetivamente ainda não consegui juntar as coisas de uma forma mais orgânica, elas ainda estão muito separadas. O diálogo com o outro artista me interessa muito, seja com Clóvis ou com outros artistas dentro da universidade. Tenho certo fascínio por essa relação. É difícil entender como o processo de criação funciona efetivamente, mas é um trabalho no qual eu gosto de estar presente, vendo as coisas em movimento, essas imagens em movimento, esses cinemas sem filme acontecendo.
Wilton Montenegro
Uma coisa engraçada que você fala, sobre essa dificuldade de se encontrar. Há pouco tempo atrás, você disse que não estava sendo artista naquele momento, era só professora, e aí você tem que fazer um livro. Parou para ter filho, abandonou parcialmente a carreira e voltou. Você está sendo permanentemente atropelada pela arte, a arte não a deixa em paz [risos]. Então não adianta tentar se acomodar... Lembro daquela história de quando dei graças a deus porque realmente daquela vez seria impossível fotografar, mas você disse pra mim: “Tenta!” E deu tudo certo. Quer dizer, acho que tem essa coisa no seu fazer artístico, essa certeza. E, apesar de ter um embasamento teórico extraordinário, sua fala, seu discurso é sempre do ponto de vista do artista. Quando começou a dar aula de teatro, você tentou abrir o universo do teatro para a arte contemporânea.
Livia Flores
Ah, eu tento o tempo todo. Não só para a arte contemporânea, mas para arte em geral. Estar nesse lugar me fez ver como realmente ainda (quantas décadas depois da noção de campo ampliado?) pensamos, ainda trabalhamos em universos segmentados – as artes visuais, as artes teatrais, as artes cinematográficas, a literatura. E eu gosto muito do movimento [risos]. Não aguento muito ficar parada, prefiro o risco do movimento do que estar num terreno sólido.

CRONOLOGIA
Organizada por Livia Flores
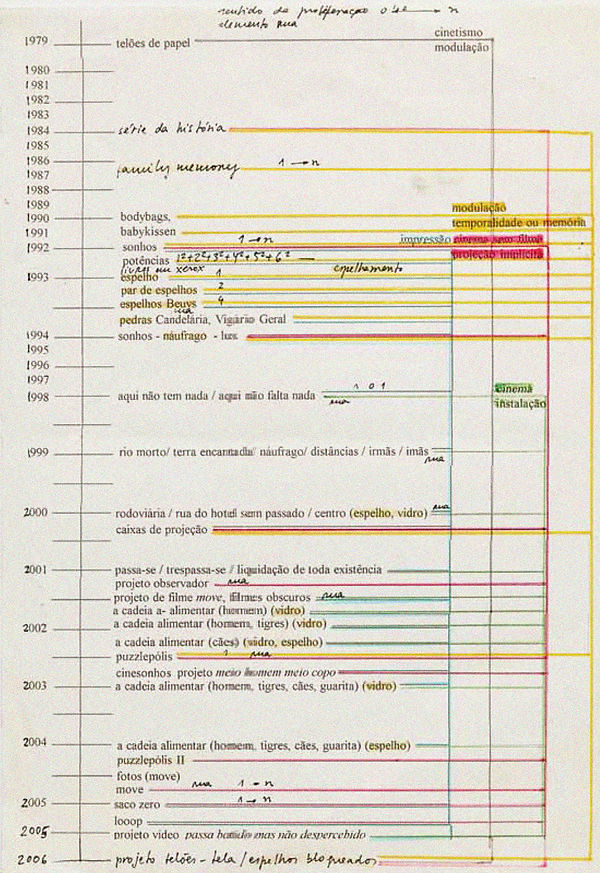
1959
Nasce no Rio de Janeiro.
1974-76
Frequenta o ateliê de xilogravura com José Altino na Escolinha de Arte do Brasil.
1978
Ingressa na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) e cursa o Curso Intensivo de Arte e Educação (CIAE) na Escolinha de Arte do Brasil. Trabalha em projetos de arte-educação em escolas e praças da periferia carioca.
1979-80
Acompanha o grupo de professores – Ana Cristina Pereira de Almeida, Marilia Rodrigues, Maria Tornaghi, Maria Luiza Saddi, Juca Pessoa, Sheila Dain e Malu Fatorelli – que deixam a Escolinha de Arte do Brasil para fundar o ateliê Armação, na Praia do Flamengo. Frequenta cursos e participa de projetos e grupos de estudo entrando em contato com artistas e professores como Paulo Gomes Garcez, Anna Bella Geiger, Manfredo de Souzanetto, Paulo Herkenhoff, Fernando Cocchiarale, Claudio Ulpiano, entre outros. Desenvolve séries de desenhos, muitas vezes organizadas em cadernos – Caderno Juquinha, por exemplo –, em que a sequencialidade passa a ser um dado importante. Ali surgem também os “telões”, colagens de grandes dimensões realizadas com papel de presente cujo padrão cinético é ressignificado como crítica à hegemonia da imagem televisiva. Estas colagens serão retomadas em 2007.
1981
Forma-se em Desenho Industrial e trabalha como programadora visual até o final de 1983 sob a supervisão de Washington Dias Lessa. Passa a frequentar o grupo orientado por Paulo Gomes Garcez, do qual fazem parte Chico Fortunato, Adriano Mangiavacchi, Brígida Baltar, entre outros.
1983
Estimulada por Paulo Garcez, faz sua primeira exposição individual na Galeria Macunaíma, Funarte, Rio de Janeiro. Mostra séries de desenhos como O engenheiro tenta construir a sua ponte e Dos meus cadernos chineses, além de colagens cujo fundamento é a rememoração da fabricação de pipas assimilada nos projetos de arte- -educação na periferia carioca. Participa do 7º Salão Carioca e do 6º Salão Nacional de Artes Plásticas, obtendo “referência especial do júri”.
Entre duas opções de bolsa no exterior
– design na Itália ou arte na Alemanha
–, escolhe a segunda. Às vésperas da geração 80, a meta era pintar.
1984
Embarca para a Alemanha em 1º de abril, onde permanece até 1993. Passa os primeiros seis meses em Mannheim estudando alemão e, em outubro, muda-se para Düsseldorf, onde começa a frequentar a Academia de Artes de Düsseldorf, sob a orientação da escultora Beate Schiff. Participa, à distância, das exposições Como Vai Você, Geração 80?, no Parque Lage, e Geração 80, na galeria MP2.
1985-88
Desenvolve a série de desenhos intitulada Série da história, trabalhos em pintura, desenhos pretos e experiências em gesso registradas no livro Family memory. Parte dessas experiências é mostrada em exposições coletivas na Alemanha, em Essen (1986, Livia Flores/Martin Hauf, Galerie Kosmos) e em Ratingen (1987, Wasser 2, Station Kunst), e numa exposição individual no Rio de Janeiro, na Galeria de Arte Centro Empresarial Rio, em 1988.
1989
A pintura começa a ganhar corpo quando tenta escapar à planaridade, estufando-se, avolumando-se. Ao mesmo tempo, a cor encontra um léxico próprio com a fabricação da tinta a óleo a partir de pigmentos terrosos coletados no ano anterior nos arredores de Recife. Parte desses trabalhos são expostos numa exposição individual na Kunsthaus Mettmann.

1990
À medida que se multiplicam os volumes, o suporte do chassi vai sendo abandonado e outras formas de sustentação e instalação vão sendo experimentadas. A pintura passa a constituir objetos moles autônomos, que ora pendem, ora se apoiam nas paredes ou sobre o chão.
Da experiência de fabricação da tinta, resulta a descoberta da luminosidade amarelada do óleo e do seu escurecimento progressivo em contato com a luz. Já não interessa mais recobrir com pintura os volumes estofados, mas lidar com a translucidez do tecido impregnado de óleo que deixa transparecer em seu interior formas, cores e volumes.
Objetos do mundo migram para o interior das obras, objetos-invólucro: velas, pedras, espuma, estopa, anel, canos de cobre, pedaços de jornal. Máquina de costura e trempe elétrica tornam-se instrumentos de trabalho.
Muda-se para Colônia (Köln), naquele momento epicentro do mercado de arte alemão e internacional. Encerra o vínculo com a Academia de Artes de Düsseldorf, recebendo da instituição a carta de Meisterschüler, assinada pelo então diretor Markus Lüpertz.
1991
Mostra trabalhos na Galerie im Kinderspielhaus, Düsseldorf . Divide ateliê com Carlito Carvalhosa e José Spaniol. Participa com Fernanda Gomes do Projekt Little Akademie, organizado pelo artista Martin Hauf em seu ateliê em Düsseldorf, Alemanha. As duas artistas ocupam o ateliê com uma instalação efêmera. Participa de exposição com Carlito Carvalhosa e José Spaniol na Galerie Maeder, situada na antiga Berlim Oriental.
1992
Realiza exposição individual no Espaço Cultural Sérgio Porto, Rio de Janeiro, onde mostra Potências e Países em vias de desaparecimento.
1993
Retorna ao Brasil. Participa da exposição coletiva Um Olhar sobre Joseph Beuys, no Museu de Arte de Brasília e do XVII Salão Carioca de Arte, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro. Os trabalhos Pedras Candelária e Pedras Vigário Geral refletem o impacto das chacinas ocorridas naquele ano no Rio de Janeiro.
1994
Realiza exposições individuais no Centro Cultural São Paulo, São Paulo, e simultaneamente nas duas galerias de Arte do IBEU, no Rio de Janeiro. Em Madureira, mostra Bodybags e, na galeria de Copacabana, expõe a série de desenhos Sonhos e a instalação Náufrago, constituída por placas de gesso distribuídas pelo chão, atravessadas e interligadas a uma garrafa vazia por fios diversos, fios elétricos e cabos de aço.
Participa da exposição coletiva Escultura Carioca, no Paço Imperial, Rio de Janeiro. Sugerida por Ivens Machado, a exposição reúne vários artistas cariocas de uma mesma geração – André Costa, Carla Guagliardi, Carlos Bevilacqua, Eduardo Coimbra, Enrica Bernardelli, Ernesto Neto, Fernanda Gomes, Jorge Barrão, José Damasceno, Marcia Thompson, Marcos Chaves, Mauricio Ruiz, Raul Mourão, Ricardo Basbaum, Ricardo Becker, Rodrigo Cardoso e Valeska Soares – em torno da emergência de uma produção tridimensional. Nasce Emanuel, primeiro filho do casamento com Jorge Emanuel de Souza e Silva.
1995-96
Participa de exposição com Bernardo Stambowsky, Eliane Duarte, Jorge Emanuel e Maurício Ruiz no Paço Imperial, Rio de Janeiro.
1996
Participa das exposições coletivas Esculturas no Paço, no Paço Imperial, Rio de Janeiro, e Dialog/Experiências Alemãs, no Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro.
1997
Nasce o segundo filho, Pedro.
1998
Conclui o mestrado em Comunicação e Cultura/Tecnologias da Imagem na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Escreve a dissertação “Sobre a cura da arte: Nietzsche, Beuys, Clark” sob a orientação de Rogério Luz. Os trabalhos de Joseph Beuys e de Lygia Clark são ali abordados sob a perspectiva de um desejo geral de metamorfose e cura do homem, cujo parâmetro seria Zaratustra, personagem conceitual de Nietzsche. Projetando-se como filósofo, médico e artista do futuro, Zaratustra referencia esse desejo de transformação do homem na passagem do moderno ao contemporâneo. “Esses artistas inventam um artista – o homem comum, não mais espectador – e uma arte que se coloca em processo permanente de criação de si: compreende-se não mais como produto e fim em si mesma, mas como tecnologia de subjetivação, ao mesmo tempo individual e coletiva, através da qual corpo e história são redisponibilizados em favor da relação arte-vida.”
Realiza a primeira instalação com filmes e projetores super-8 na galeria do Centro Cultural Cândido Mendes, Rio de Janeiro. As frases “aqui não tem nada” e “aqui não falta nada” reúnem quatro filmes super-8 projetados simultaneamente sobre paredes e tela translúcida. Desenhos realizados em computador buscam uma aproximação com a questão do tempo do movimento nos filmes.
Em release sobre a exposição, Livia escreve: “O que você mostra nesta exposição?
Esta exposição reúne imagens em super-8. São imagens fílmicas, imagens que poderiam ser desenhos, isto é, imagens às quais subjaz um desenho, mas que são acrescidos do fator tempo. Tempo é exatamente o que aparece no desenho sobre a folha de papel, pois o desenho condensa o tempo, ocultando-o. Ao filmar, filma-se o tempo, aquilo que permitiria assistir ao movimento e à velocidade que acontecem no ato de desenhar. Assim, essas imagens representam uma tentativa de colher alguns movimentos no real. Elas procuram extrair daí certos desenhos, perseguindo um repertório mínimo de movimentos que recaem sobre determinados objetos, movimentos previsíveis, porém sujeitos a falhas. Como exemplo, o vento que incide sobre o capim produz movimentos que, no entanto, podem ficar suspensos no caso de falta de vento. A cada uma dessas imagens corresponde uma temporalidade específica.
As frases ‘aqui não tem nada’ e ‘ aqui não falta nada’, que aparecem no convite, são o título da exposição?
Não, a exposição não tem título. Os trabalhos expostos não pretendem ilustrar qualquer um desses aspectos. Esse par de frases funciona antes como imagem sonora a reverberar entre os trabalhos, como uma espécie de eco insistente que se produz num espaço entre a vastidão e a falta de paisagem. Representa dois estados ideais, opostos complementares e absolutos em sua infinitude. O exato momento de sua equivalência, no real, produz quebra. ‘Aqui não tem nada’ e ‘aqui não falta nada’ tratam de visões, de alucinações no deserto. À precariedade da imagem corresponde a realidade da miragem.”
1999
A convite de Ricardo Basbaum, expõe na Galeria Cândido Portinari, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ocupa o espaço da galeria com projeções simultâneas de filmes super-8 sobre paredes e tela translúcida. O espectador consegue evitar que sua sombra se projete sobre as imagens em apenas uma área limitada – espécie de ponto cego – do espaço da galeria. Sobre a parede que conduz à entrada da galeria, estende-se o diagrama composto pelas expressões rio morto, terra encantada, náufrago, distâncias irmãs e ímãs, que funciona como ponto de interseção entre palavra e imagem, distâncias móveis e velocidades, espaço e tempo.
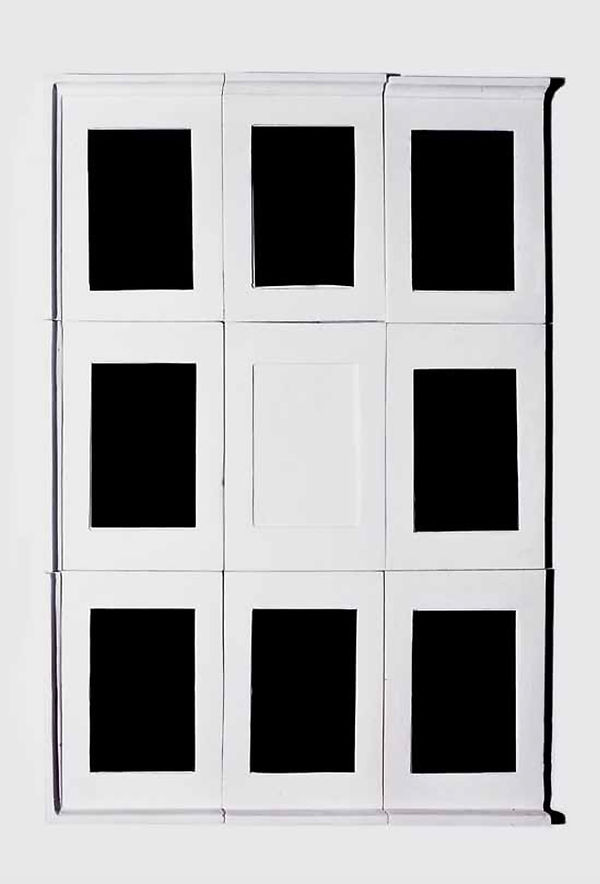
2000
Neste ano, surgem as Caixas de projeção como registros materiais dessas instalações: guardam os loops de filmes utilizados e associam imagem e constelações de palavras ou frases relacionadas ao filme. As primeiras Caixas de projeção são mostradas na exposição Imagens Paradoxais, organizada por Adriana Varella na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro.
No catálogo da exposição, Livia descreve seu processo de trabalho: “Uso filmes super-8 para captar de forma ágil certos movimentos que atraem minha atenção em percursos diários. Filmo e escolho as sequências a partir da perspectiva de que serão fechadas em looping. Ao unir começo e fim de uma sequência num só ponto, obtenho a projeção de uma imagem que se repete infinitamente. Num ambiente de exposição, estas imagens, projetadas simultaneamente, ocupam o espaço de penumbra constituindo um conjunto que, por vezes, se associa a palavras ou frases. Os filmes são mudos; a sala é preenchida pelo ruído dos projetores. O espectador é levado a mover-se entre as imagens, ocasionalmente projetando sobre elas sua sombra.”
Participa das exposições coletivas O Século das Mulheres – Algumas Artistas, a convite de Luiz Áquila na Casa de Petrópolis, em Petrópolis, e Macunaíma: Reflexões, no Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro.
Realiza exposição individual no Espaço Agora/Capacete, Rio de Janeiro, apresentando instalação com cinco filmes super-8 projetados simultaneamente sobre espelhos e lâminas de vidro. A projeção sobre essas superfícies devolve as imagens às paredes em diferentes recortes e graus de intensidade. Ao deslocar-se no espaço da galeria, o espectador projeta sua sombra sobre as imagens. Um pequeno editor de super-8 permite ao espectador a visada de um sexto filme na velocidade e sentido que ele próprio determina ao manipular as manivelas.
Uma série de seis desenhos sobre papel-carbono fornece o mapa do trajeto “rodoviária - rua do hotel sem passado - centro”, fragmento de sonho, fio condutor do trabalho.
2001
Passa a integrar a Coleção Gilberto Chateaubriand, participando da exposição Gilberto Chateaubriand: Aspectos de uma Coleção, no Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro. A convite de Paulo Herkenhoff, participa de exposição Trajetória da Luz, no Itaú Cultural, São Paulo, com a instalação Sonhos + náufrago. “Sonhos”, anotações de sonhos sobre o verso de folhas de papel-carbono, são colocados entre vidros. Esparsamente iluminados por lâmpadas de baixa potência, ao mesmo tempo espelham a imagem proveniente de um monitor. No monitor, o filme “náufrago” mostra navios ao longe na linha do horizonte filmados a partir de um ponto de vista instável – outro barco.
É convidada pelos curadores Miguel von Hafe Pérez, Bartomeu Mari, João Fernandes e Vicente Todoli a participar da exposição Squatters/Ocupações, realizada pelo Museu de Serralves e pela Porto 2001. Squatters propõe a ocupação de espaços não convencionais distribuídos por toda a cidade.
O convite compreende uma residência de três meses nos ateliês da Lada e a realização de um trabalho neste local, cuja vista privilegiada abarca o rio Douro, a ponte D. Luis, a cidade de Gaia e as margens da Ribeira.
O projeto observador realizado neste local consistiu na transformação do espaço do ateliê em câmara escura através do escurecimento total do ambiente. A abertura de pequenos orifícios no vinil preto colado às janelas permitiu obter projeções invertidas da paisagem externa sobre as paredes internas do espaço. O número de aberturas, seu diâmetro e posição determinaram a construção da imagem, deixando perceber em tempo real movimentos que aconteciam do lado de fora. A imagem projetada, visível apenas durante o dia, variava em cor e intensidade, conforme a incidência da luz sobre a paisagem que se rebatia invertida nas paredes do ateliê.
O segundo trabalho apresentado na exposição ocorre numa antiga sapataria transformada em sítio arqueológico, por sua vez também desativado. Neste ambiente, projetam-se dois filmes realizados durante o período de residência: Douro mostra imagens do fluxo das águas do rio Douro, e Ribeira procura capturar imagens dos habitantes do bairro entrevistos em frestas de janelas e portas.
Pequenas interferências como a colocação de vidros nas prateleiras existentes ou o deslocamento do ângulo de um grande espelho remanescente e o posicionamento de lâmpadas de baixa intensidade potencializam a presença das imagens projetadas no ambiente.
Nas vitrines, expressões correntes observadas no comércio do Porto – “liquidação de toda a existência”, “passa- se”, trespassa-se” – acrescentam outra camada semântica ao ambiente e às imagens projetadas.
O ambiente torna-se progressivamente visível com o cair da luminosidade do dia. Os transeuntes podem observar o trabalho através dos vidros da vitrine fechada, onde os reflexos da rua – luminosos, faróis e lanternas de carros – se misturam à visão do interior da loja.
Em setembro do mesmo ano, participa de Mistura + Confronto, exposição curada por Ricardo Basbaum, reunindo artistas brasileiros e portugueses na Central Elétrica do Freixo, Porto, Portugal. Ali apresenta o primeiro filme de A cadeia alimentar (16 mm mudo, transcrito para DVD) projetado no fundo de uma das salas da antiga fábrica. Entre o espectador e a imagem, interpõe-se uma placa de vidro. Nesse quadrilátero, as palavras a-, a+, cadeia e alimentar formam um diagrama espacializado.
Ricardo Basbaum descreve o trabalho: “Completou-se assim uma primeira volta através de ‘Mistura + Confronto’, que possibilitou visitar aquelas manobras que querem buscar outras posições frente à arquitetura da exposição. O percurso agora irá se fazer pelos trabalhos que investem na questão da imagem, instrumentalizando-a via vídeo, diapositivo ou fotografia – sendo o ambiente preferido aquele da instalação, ou seja, a imagem espacializada, buscando, quando possível, diálogo direto com as características do lugar em que se encontra.
Este é precisamente o caso de ‘A cadeia alimentar’, de Livia Flores: a projeção ocorre numa sala transformada por intervenções materiais da artista – uma lâmina de vidro divide o espaço e produz desvios no feixe de luz do projetor, palavras coladas à parede colhem reflexos. Antes de se perceber a narrativa proposta em imagem – ou melhor, simultaneamente a esta descoberta –, já se nota o local como região de intervenção quase escultórica, transformando a percepção puramente fílmica em uma combinação de espaço e imagem-movimento. Claro que esta operação complexifica a trama proposta, assumindo mesmo uma condição de embate com o ambiente em que se manifesta: a situação fílmica, que mostra um homem adicionando um instrumento à colher de sopa para prosseguir seu processo de alimentação, é multiplicada em termos de cor, luz e imagem quando a lâmina de vidro interfere no trânsito da projeção – a artista parece mesmo querer construir uma poética dos dispositivos de conexão, intermediação ou bloqueio (o alicate, a lâmina de vidro): não seria também a palavra (presença sutil mas insistente) um dispositivo do mesmo tipo, interpondo-se a meio caminho entre nós e as coisas e assim produzindo toda a sorte de reflexos, multiplicações e desvios? O termo “cadeia” funciona aqui em seu duplo sentido de conexão e enclausuramento: cada nó pode ao mesmo tempo limitá-la ou expandi-la. Esta instalação de Livia Flores possui um efeito multiplicador sobre si mesma, seja centrífugo ou centrípeto, e é aí que o trabalho nos captura, ao acoplar-se em nossa cadeia de percepções e colocar para nós a tarefa da mistura e confronto com o campo de sensações que produz.”
Quase simultaneamente, realiza exposição individual na Galeria Marta Vidal, Porto, onde mostra sua última instalação com filmes super-8, todos realizados durante o período de residência nos ateliês da Lada (março a julho de 2001). Na sala maior da galeria, três projetores apontam para o espelho remanescente da sapataria. As imagens, que ali se misturam, são devolvidas às paredes separadamente: o fluxo das águas do rio Douro; movimentos ascendentes e descendentes da câmera em um hipermercado; e a incerta travessia de um homem sobre a ponte D. Luís.
No ambiente menor, os filmes “ribeira” e “vitrines” fazem passar imagens noturnas de habitantes e de objetos entrevistos em janelas e vitrines do bairro da Ribeira. Os dizeres “liquidação de toda a existência”, “passa-se” e “trespassa-se” – observados com frequência no comércio da cidade – sinalizam as radicais mudanças econômicas em curso naquele momento em que se festejava o ingresso de Portugal na Comunidade Econômica Europeia.
Em outubro, a convite dos curadores Franklin Espath Pedroso e Nelson Aguilar, participa da exposição Côte à Côte, realizada no capcMusée d´Art Contemporain de Bordeaux, na França. Nesta versão de A cadeia alimentar, à imagem do homem que interpõe um alicate entre sua mão e a colher que usa para se alimentar, acrescenta-se um segundo filme no qual se vê o movimento constante de dois tigres numa jaula. Dois projetores 16 mm colocados sobre carrinhos para transporte de obras do museu projetam simultaneamente os filmes sobre agrupamentos de placas de vidro, gerando múltiplas fragmentações e entrelaçamentos de imagens.
2002
O trabalho selecionado para a Mostra Rio Arte Contemporânea (Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro) retoma a experiência com a câmara escura realizada no Porto para inverter a paisagem-ícone do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, na instalação denominada Fundos.
Da participação na Mostra RioArte, surge o convite para uma exposição individual na Galeria Sérgio Porto. Coincidentemente, no momento em que prepara a exposição, trava conhecimento com o universo da Fazenda Modelo e de Clóvis Aparecido dos Santos, então morador da Fazenda, por intermédio do médico Marcelo Antonio da Cunha, na época diretor do que durante décadas fora o destino para a população de rua recolhida na cidade do Rio de Janeiro – por sua iniciativa, hoje totalmente desativado.
Desse encontro, resulta Puzzlepólis, instalação com tacos de madeira e dois objetos produzidos por Clóvis. O chão da galeria é recoberto por tacos de madeira soltos, mas ajustados uns aos outros, formando padrões diversos, mutantes, com falhas. Sobre esta plataforma – instável e ruidosa para quem caminha sobre ela –, encontram-se uma casa de papelão e um abajur. Dentro do abajur, uma lanterna faz girar as palavras “a cadeia alimentar”.
Esta instalação é mostrada ainda nesse mesmo ano na exposição Matéria Prima, realizada por ocasião da inauguração do NovoMuseu de Curitiba, com curadoria de Lisette Lagnado e Agnaldo Farias.
A imagem da cidade, vista de um ponto de vista oblíquo ou periférico, aparece em outros trabalhos realizados no mesmo ano.
Em Lambe, realizado no Espaço Rés do Chão – local de trabalho e moradia do artista Edson Barrus –, a vista da janela para o Centro do Rio de Janeiro inspira a retomada de um projeto dos anos 1980: fazer fotos noturnas, em formato 3x4, de sedes de grandes empresas e órgãos governamentais invertendo desse modo a relação de “fichamento” usualmente praticada por estas organizações. Lambe funciona assim como uma espécie de observatório clandestino de onde é possível identificar os prédios iluminados nos “retratos 3x4” dispostos sob o tampo de vidro de uma mesa de escritório.
Em Inserção de retrovisão, proposição selecionada para a 4ª edição do Prêmio Interferências Urbanas, cinquenta espelhos retrovisores posicionado em diversos pontos do bairro de Santa Teresa refletem recortes da paisagem, variáveis segundo o ponto de vista do observador-transeunte.
Como descrito no projeto, “a escolha dos pontos de inserção de retrovisão se dará por imaginação cinematográfica, isto é, lugares em que o grau de tensão-atenção tende a aumentar somado às possibilidades de relação entre arquitetura e paisagem que possam oferecer. Os acessos a Santa Teresa, ladeiras e escadarias são, neste sentido, locais privilegiados onde o olhar para trás descortina vastos espaços, amplas visões da cidade que, frequentemente, se contrapõem à impossibilidade de visão além da próxima curva ou patamar de escada. Pela luminosidade que refletem, os espelhos funcionam como sinalização: constelação geopolítica-poética.”
Na exposição Love’s House, projeto de intervenção artística concebida pelo Agora, cujo título toma emprestado o nome do hotel onde se realiza, misto de local de encontros rápidos e moradia estendida, cada um dos artistas ocupa um quarto. No quarto 316, são projetadas duas sequências do terceiro filme de A cadeia alimentar, que mostra cães nas precárias condições de um canil.
“O movimento dos cães é limitado por correntes que os prendem a habitações individuais em um canil. Habitação não é casa, é coletivo, hotel sem passado. A noção de habitação incorpora outros termos nesta conjunção: defesa, precariedade, liberdade, limite. Quem entra é cercado por cães, multiplicados e distorcidos na projeção. Por seu jogo sobre espelhos e vidros, os 360 graus do quarto ganham uma linha de fuga sem saída. Dificilmente uma presença neste território escapa de ser detectada pelas sombras que provoca. Sombras que ao mesmo tempo desfazem a cena da imagem construída abaixo da “linha do horizonte”, a marca de pintura azul que cobre parte das paredes. Uma pequena borboleta adesiva encontrada colada ao lado da pia é o único vestígio de presença deixado no quarto. Deslocada por um pequeno movimento para a superfície do espelho, faz pairar a sua sombra acima da região submersa, na contraluz.”
Duas exposições coletivas encerram o ano: FotoArte, com curadoria de Ligia Canongia, apresenta três Caixas de projeção no CCBB do Rio de Janeiro (e de Brasília, no ano seguinte), e IBEU 1991 a 2001, com curadoria de Esther Emilio Carlos, mostra A cadeia alimentar, caixa com fotografia e diagrama na Galeria de Arte IBEU, Rio de Janeiro.
Por fim, a 3ª edição do Prêmio Sergio Motta concedeu ao projeto A cadeia alimentar uma bolsa (prêmio estímulo) para a realização do quarto filme e da videoinstalação compreendendo a projeção simultânea dos quatro filmes sobre três placas de vidro (3,20 x 2,20 m) apoiadas numa parede e colocadas, tanto quanto possível, em equilíbrio, sugerindo instabilidade e delimitando um espaço interno retangular atravessado por fluxos de imagens.
2003
A videoinstalação foi apresentada em Goiânia, no Museu de Arte Contemporânea, e em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, graças à itinerância da exposição Mídia-Arte, 3o Prêmio Sergio Motta, curada por Daniela Bousso.
Ingressa no curso de doutorado do Programa de Pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFRJ (EBA-UFRJ), então coordenado por Carlos Zilio, seu futuro orientador.
2004
A convite de Miguel von Hafe Pérez, mostra A cadeia alimentar no Centre d’Art Santa Mònica, em Barcelona, Espanha. O espaço, um corredor de 26 m de comprimento por 3 m de largura, com onze janelas em um dos lados, obriga a uma nova configuração espacial. Cinco projetores apontam para as janelas recobertas por espelhos que desestabilizam a ortogonalidade do espaço e devolvem as imagens seccionadas à parede oposta. Ao atravessar este “campo minado” de imagens, o espectador projeta duplamente sua sombra sobre as imagens, uma vez como subtração de luz, outra como projeção de presença negativa.
Participa da 26ª Bienal de São Paulo a convite de Alfons Hug. Puzzlepólis II desloca 58 peças de autoria de Clóvis Aparecido dos Santos da Fazenda Modelo para a Bienal a fim de criar uma miragem de cidade, entendida como lugar de projeção e reflexão de imagens. O vinil preto, colado ao pano de vidro do prédio da Bienal, ora deixa transparecer a cidade real do lado de fora, ora duplica esta outra cidade em escala.
A convite da curadora Elke von der Moore, participa (com Lucia Koch, Efrain Almeida, João Modé, Ricardo Basbaum e Lia Chaia) da exposição Entre Pindorama, Künstlerhaus, Stuttgart, Alemanha. Ali também o universo da rua se faz presente. Mas, em vez de peças com autoria, Move desloca para o contexto de arte alemão objetos anônimos, bens de consumo desgastados e descartados que foram reinseridos no circuito econômico pela população de rua da cidade do Rio de Janeiro. Espelhos e vidros encostados nas paredes à sua volta acrescentam à visão direta dos objetos imagens fragmentadas da cena que envolve o próprio espectador em sua movimentação em torno dos objetos.
Move está diretamente relacionado à série fotográfica de mesmo nome exibida nas exposições Heterodoxia - Edição Latino-americana, na Galeria Marta Traba, Fundação Memorial da América Latina, São Paulo, e Figura 6, no Rio de Janeiro.
Participa ainda das coletivas Coleção Gilberto Chateaubriand – Novas Aquisições, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro; Arte Contemporâneo de Brasil – Heterodoxia – Lima, Artco Galeria de Arte, Lima, Peru; Paisagem: Reflexões, Contextualizações, Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Rio de Janeiro; e Microlição de Coisas, Centro de Estudos Murilo Mendes, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora.
2005
Ocupa o Anexo da Galeria Laura Marsiaj, Rio de Janeiro, com dois trabalhos relacionados ao zero: LOOOP, livro-objeto para ser folheado, e o múltiplo saco zero, que os visitantes podiam retirar da parede da galeria e levar para casa.
“Esses trabalhos lidam diretamente com a seguinte hipótese: a partir de que ponto – de acumulação ou grau de insistência – o zero pode fazer diferença? A partir de que momento ele se torna visível enquanto sinal? SACO ZERO – múltiplo, edição de 1.000 exemplares para serem distribuídos. Objeto óbvio. Impressão de um zero sobre sacos plásticos brancos, sacos comuns de embalagem. Proliferação de conjuntos vazios, sacos cheios de nada. Apesar de equivalente, ao nível semântico, da expressão ‘saco cheio’, só funciona vazio, perde o significado quando utilizado funcionalmente. LOOOP – livro-objeto: pequena brochura em formato quadrado em que a notação de uma paulatina acumulação numérica de zeros cresce a ponto de dar a volta na sequência de páginas até se tornar linha contínua, infinita. Joga com a contradição básica entre a ideia de acumulação e a de zero.”
Entre novembro e dezembro, participa de residência na Villa Arson em Nice, França, onde desenvolve trabalhos em fotografia, expondo-os em coletiva na Galerie Arena, em Arles, no âmbito do seminário “Brésil dynamiques de création”, realização do projeto Interface (parceria entre o Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ e o Réseau L’ Age D’Or , constituído por Escolas de Arte do Sul da França). Participa das coletivas Educação, Olha, na Galeria A Gentil Carioca, Rio de Janeiro, e NanoExposição, na Galeria Murilo Castro, Belo Horizonte.
2006
Participa do projeto REDE/Funarte em Aracaju, com o workshop “Como fazer cinema sem filme?”, formulação que viria a ser o título de sua tese de doutorado. Na apresentação da oficina, diz interessar-se mais pela “possibilidade de extração poética de uma falta – do que propriamente pelo que falta. A proposta para esta oficina é estimular a exploração de uma ‘potência do negativo’, que envolve noções de economia, possibilidades de inversão e transmutação de valores, encadeamentos e fluxos de circulação. O ponto de partida será a busca de uma atenção e imaginação cinematográficas relacionadas ao cotidiano.”
Participa da coletiva Paixão, no Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, que no final do ano anterior passara a abrigar as peças da instalação Puzzlepólis II, transferidas para lá em regime de comodato. Clóvis é integrado às atividades do Museu e da Escola Livre de Artes Visuais do Museu, conquistando ali um lugar para produzir (e viver, ainda que clandestinamente), onde permanece até ser expulso, sob a alegação de colocar em risco as instalações do museu.
Outras coletivas: Coleção Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro; Incorpo(R)ações, Espaço Bananeiras, Rio de Janeiro; Où Sommes-Nous? Sur une Proposition d’Alexandre Sá, École Supérieure des Beaux Arts Montpellier Agglomération, França; e Linguagens Visuais: 10 Anos, Centro Hélio Oiticica, Rio de Janeiro.
2007
Defende sua tese de doutorado, intitulada Como fazer cinema sem filme? Concebe a própria defesa como uma “sessão única de cinema sem filme”, livremente inspirada em La Mariée mise a nu par ses celibataires, même, de Marcel Duchamp. A análise desta obra é central para a hipótese desenvolvida sobre a relação entre ready-made e pensamento cinematográfico: “Seria possível pensar o cinema como ready-made assistido? Ou, ao contrário, o ready-made como uma espécie de cinema sem filme?”
Nesta ocasião, retoma colagens da década de 1980 (Telões) para produzir a série Telas/Como fazer cinema sem filme?
“TELA remete: 1. ao formato tradicional da pintura; 2. à tela de vídeo e de cinema.
Mas não é uma coisa nem outra.
As primeiras são telas esticadas sobre chassis, coladas com papel de presente. Essas colagens, realizadas em 1980, apresentam agora sinais do desgaste do tempo. O papel envelheceu, assim como a estética que inspirou seu padrão cinético. Listas sucedem-se como ondas, imitando o brilho azulado da televisão.
O segundo tipo de tela é formado por espelhos impressos em serigrafia. O padrão gráfico original é reconstituído. Mas em lugar do papel prateado, por entre as frestas da trama impressa, aparece o espelho, permitindo a visão refletida do ambiente.”
Em julho, faz exposição individual no MAMAM no Pátio (galeria do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães situada no Pátio de São Pedro), Recife, resultado de workshop e residência artística de duas semanas na cidade. O ponto de partida para a exposição é a ação performática do artista Gargamel, que, de olhos vendados, tenta vender seus trabalhos para o público frequentador dos bares
do Pátio de São Pedro, no centro de Recife, mostrando uma sequência de cartazes/quadros: uma obra “invisível”, isto é, inexistente, apenas indicada pelo gesto que a exibe, um cartaz com os dizeres “SOS artistas” e colagens de sua autoria.
Participa da exposição coletiva Museu como Lugar, no Palácio Imperial, Petrópolis, cuja proposta é o estabelecimento de um diálogo entre arte contemporânea e o acervo e os ambientes do Museu Imperial.
“PILHA compreende a superposição de várias camadas semânticas – como a própria palavra pilha: coisas dispostas umas sobre as outras – pilha de roupa, por exemplo; bateria, fonte energética; pilhagem, ato ou efeito de pilhar, aquilo que se pilhou; irritação, nervosismo; quantidade, força, intensidade.
O objeto que se empilha, o cobertor, é um aglomerado de fibras tanto quanto de imagens. Sinaliza mudança, partida, abandono de casa, mas também de pessoa, e nesse trânsito passa a abarcar sentidos dúplices como abrigo/desabrigo ou proteção/estigma. Constitui relações políticas – sociais, culturais e econômicas – na mesma medida em que é constituído por elas. Sua presença nos ambientes propostos (Quarto dos Imperadores, Sala Princesa Isabel) sugere um convite à leitura térmica de pensamentos (frios, mornos, inflamados etc.).”
Participa das coletivas Nmúltiplos, Galeria Arte 21, Rio de Janeiro; Heterodoxia, Galeria Murilo Castro, Belo Horizonte; e Novas Aquisições, Coleção Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte Moderna Rio de Janeiro.
Desenvolve pesquisa de pós-doutorado junto ao Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA-UFRJ, atuando como professora colaboradora até 2009.
2008
Recebe o Prêmio Projéteis Funarte de Arte Contemporânea para realizar exposição no Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro. Ocupa a parede frontal da galeria com espelhos impressos móveis que permitem perceber, a certa distância, o grande espaço do mezanino e tudo o que ali se passa.
Participa da coletiva Travessias Cariocas, Caixa Cultural, Rio de Janeiro, cuja curadoria, de Adolfo Montejo Navas, propõe “uma troca de poéticas e subjetividades” entre os doze artistas da mostra, todos pertencentes à mesma geração. As duas fotografias apresentadas, Protéticos, inspiram-se na série de
fotografias de Marcos Chaves intitulada Próteses.
Participa do projeto de Intervenções artísticas no Morro da Conceição, realizado por Rafael Cardoso no âmbito do projeto Arte e Patrimônio, no Rio de Janeiro. Em 12 de abril, instala uma gambiarra com os dizeres “Feliz Ano Novo”.
“Feliz Ano Novo surge como instalação festiva, saudação aos moradores (ou saudação dos moradores à cidade), anúncio de renovação, esperança de futuro feliz. Ao mesmo tempo, sua aparição extemporânea sugere algum tipo de desarranjo na ordem do tempo ou do discurso – o tempo fora de ordem, o senso comum confundindo-se com o nonsense.”
Ainda como desdobramento do mesmo projeto, participa da coletiva Morro das Artes, Paço Imperial, Rio de Janeiro, onde mostra 10.000 etiquetas para uso privado ou público. O trabalho sugere que as etiquetas autocolantes possam ser destacadas e coladas onde “se julgar necessário”.
Realiza individual na Galeria Progetti, Rio de Janeiro.
2009
Participa das coletivas Reading Room 1: Brazil, MACBA, Barcelona, Espanha; The End. And..., Latincollector, Nova Iorque, EUA; e Serralves 2009 – “A Colecção”, Museu de Serralves, Porto, Portugal. É aprovada no concurso público para professora de Comunicação e Artes da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ e
começa a ministrar aulas no Curso de Direção Teatral da ECO. Torna-se professora efetiva do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ.

2010
Participa da coletiva TEMPO-MATÉRIA, com André Parente, Leila Danziger, Malu Fatorelli e Ricardo Basbaum, com curadoria de Luiz Claudio da Costa, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói. Apresenta a videoinstalação Passa batido mas não despercebido, constituída por registros em vídeo das transformações ocorridas na paisagem ao longo da Estrada do Rio Morto (Vargem Grande, Rio de Janeiro) realizados desde 2005, parte do projeto de rastreamento do rio morto. “A questão do trabalho é a relação de ajuste entre velocidades, distâncias e ciclos, uma relojoaria da paisagem. Ou: a paisagem-bomba-relógio.”
2012
Realiza exposição individual na Galeria Progetti. Retoma o interesse pela pesquisa de materiais e processos, desdobrando-os em sua relação com o tempo, com a história e com o trabalho coletivo. A vontade construtiva é tensionada pela entropia implícita no próprio fazer. O trabalho é imagem em movimento, processo de transformação contínua. Os cobertores cinza de Pilha (2007), os tacos de Puzzlepólis (2002), o gesso de Náufrago e Pedras (1994), o tecido embebido em óleo de Bodybags (1991) reaparecem em novas configurações estabelecendo diálogos entre si. Participa da exposição coletiva Prêmio Situações Brasília no Museu do Conjunto Nacional, Brasília.

BIBLIOGRAFIA
AGUILAR, Nelson. Paysage: comme on le forme. In: Côte à Côte Art contemporain du Brésil. Bordeaux : CAPC – Musée d’art contemporain de Bordeaux, out. 2001-jan. 2002. [Catálogo da exposição].
ANDRADE, Luis. Livia Flores. In: ANDRADE, L. et. al. Love’s House: 13 artistas em curta temporada. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2002.
BASBAUM, Ricardo. Super. In: Livia Flores. Rio de Janeiro: Espaço AGORA/CAPACETE, dez. 2000-jan. 2001. [Catálogo da exposição].
______. Mistura + confronto. In: Mistura + confronto. Porto: Portugal, 2001. [Catálogo da exposição].
______. Querida Livia... In: Squatters/Ocupações. Porto: Museu de Serralves, 2001. [Catálogo da exposição].
CANONGIA, Ligia. “Cadena alimentària” en cadena de imágenes. In: TORRES, D. G. (Org.). CASM. v. 1. Barcelona: Centre d’Art Santa Mònica, 2005. p. 96-101.
COIMBRA, Eduardo. [Texto do folder da exposição Livia Flores]. Rio de Janeiro: Espaço Sérgio Porto, 1992.
COSTA, Marcus de Lontra. Os movimentos do jogo. In: [Encarte do folder Livia Flores]. Rio de Janeiro: Galeria Macunaíma, 1983.
DA COSTA, Luiz Cláudio. Máquinas de desvios: as instalações com filmes de Livia Flores. In: CABO GERALDO, S. (Org.). Revista Concinnitas, n. 14. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ, 2009.
______ (Org.). Tempo-Matéria. Rio de Janeiro: Contracapa Livraria, 2010.
EMILIO CARLOS, Esther. Livia Flores – sonhos e náufrago; bodybags. Rio de Janeiro: Galeria de Arte IBEU, 1994. [Catálogo da exposição].
FERREIRA, Glória. Tela como território. In: Livia Flores. Galeria Progetti: Rio de Janeiro, 2009. [Catálogo da exposição].
______; FLORES, Livia; DE MORAES, Luiz Ernesto. Conversa entre Glória Ferreira, Livia Flores e Luiz Ernesto. In: Entre-vistas. Rio de Janeiro: Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 2011.
______. Sobre a cura da arte: Nietzsche, Beuys, Clark. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Cultura) – Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1998.
______. Imagens paradoxais. Rio de Janeiro: Escola de Artes Visuais, 2000. [Catálogo].
______. Puzzle-Pólis. In: [Folder da exposição no Espaço Cultural Sergio Porto]. Rio de Janeiro, ago.-set. 2002.
______. Il n’y a rien ici, il ne manque rien ici. In: STRATMANN, Veit (Org.). Rond-Point au Mammouth. Paris: PPT/éditions, 2003. p. 71-75.
______. Como fazer cinema sem filme? Tese (Doutorado em Artes Visuais). Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.
______. Como fazer cinema sem filme? In: FERREIRA, G.; VENÂNCIO FILHO, P. (Org.). Revista Arte&Ensaios, n. 15. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/Escola de Belas Artes, UFRJ, 2007.
______. Filmes. In: MACIEL, K. (Org.) Transcinemas. Rio de Janeiro: Contracapa, 2009.
______. Notas sobre a (Fotografia das Sombras dos Readymades). In: CABO GERALDO,S. (Org.). Revista Concinnitas, n.14. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Artes/UERJ, 2009.
______. Poéticas da negação: lugares de encontro pelo avesso. In: Anais VI Reunião Científica da ABRACE. Porto Alegre: ABRACE, 2001. Disponível em: <http://xxx.portalabrace.org/vireuniao/teorias/62.%20FLORES%20LOPES,%20Livia.pdf>. Acesso em: 15 out. 2012.
______. Uncut / How to make cinema without film? In: UNNEEDED TEXTS. v.1. Porto: i2ADS Instituto de Investigação Arte, Design e Sociedade, Universidade do Porto, 2012.
______; PÉREZ, Miguel von Have; KOCH, Lucia; BASBAUM, Ricardo. Aktion und Widerstand in der globalen Ära - Ein Gespäch mit drei Künstlerinnen über den brasilianischen Fall. Springerin - Hefte für Gegenwartskunst, Viena, v. XI, n. 3, outono 2005.
GERHEIM, Fernando. Entre margens; Instantes maleáveis. In: Livia Flores. Rio de Janeiro: Galeria Cândido Portinari, UERJ, abr.-mai. 1999. [Catálogo].
NAVAS, Adolfo Montejo. Livia Flores. Ver para pensar, ou ao contrário? In: 26ª Bienal Internacional de São Paulo - artistas convidados. São Paulo: fundação Bienal de São Paulo, 2004. [Catálogo].
SCHOLTES, Lili, Nahrungsketten. In: MOORE, E. Aus dem; RONNA, G. (Org.). Entre Pindorama. Nuremberg: Verlag für moderne Kunst Nürnberg/Künstlerhaus Stuttgart, 2005. [Catálogo].
CRÉDITOS
TÍTULO DO PROJETO
ARTE BRA Livia FLores
COORDENAÇÃO EDITORIAL
Luiza Mello
Marisa S. Mello
DESIGN
Tecnopop | Alexsandro Souza
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
Luisa Hardman
TRATAMENTO DE IMAGEM
Vijai Patchineelam
Luiza Baldan
REVISÃO
Duda Costa
VERSÃO INGLÊS
Paul Webb
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA
Julia Pombo
FOTOGRAFIA
Beto Felício
Wilton Montenegro
GESTÃO
Marisa S. Mello
